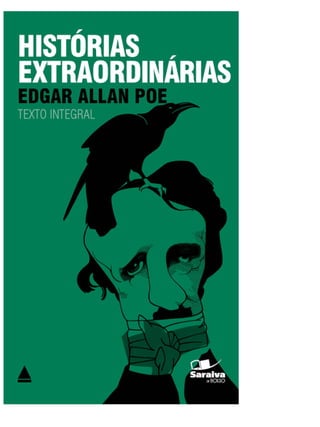
O gato preto e a perversidade do homem
- 5. Livros para todos Esta coleção é uma iniciativa da Livraria Saraiva que traz para o leitor brasileiro uma nova opção em livros de bolso. Com apuro editorial e gráfico, textos integrais, qualidade nas traduções e uma seleção ampla de títulos, a Coleção Saraiva de Bolso reúne o melhor da literatura clássica e moderna ao publicar as obras dos principais autores brasileiros e estrangeiros que tanto influenciam o nosso jeito de pensar. Ficção, poesia, teatro, ciências humanas, literatura infantojuvenil, entre outros textos, estão contemplados numa espécie de biblioteca básica recomendável a todo leitor, jovem ou experimentado. Livros dos quais ouvimos falar o tempo inteiro, que são citados, estudados nas escolas e universidades e recomendados pelos amigos. Com lançamentos mensais, os livros da coleção podem acompanhá-lo a qualquer lugar: cabem em todos os bolsos. São portáteis, contem- porâneos e, muito importante, têm preços bastante acessíveis. Reafirmando o compromisso da Livraria Saraiva com a educação e a cultura do Brasil, a Saraiva de Bolso convida você a participar dessa grande e única aventura humana: a leitura. Saraiva de Bolso. Leve com você.
- 6. Direitos de edição da obra em língua portuguesa adquiridos pela Edit- ora Nova Fronteira Participações S.A. Todos os direitos reservados. © Clarice Lispector, 1975, herdeiros de Clarice Lispector, 2005. Coordenação: Daniel Louzada Conselho editorial: Daniel Louzada, Frederico Indiani, Leila Name, Maria Cristina Antonio Jeronimo Projeto gráfico de capa e miolo: Leandro B. Liporage Ilustração de capa: Cássio Loredano Diagramação: Filigrana Conversão para epub: Celina faria e Leandro B. Liporage Equipe editorial Nova Fronteira: Shahira Mahmud, Adriana Torres, Claudia Ajuz, Gisele Garcia Preparação de originais: Gustavo Penha, José Grillo, Fatima Fadel CIP-Brasil. Catalogação na fonte Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ P798h Poe, Edgar Allan, 1809-1849 Histórias extraordinárias / Edgar Allan Poe ; tradução e adaptação Clarice Lispector. - [Ed. especial]. - Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 2011. (Saraiva de bolso) Tradução de: Tales of the grotesque and arabesque ISBN 9788520928769
- 7. 1. Conto americano. I. Lispector, Clarice, 1920-1977. II. Título. III. Série. CDD: 813 CDU: 821.111(73)-3 7/130
- 8. Introdução É fácil observar que a Natureza torna bastante dura a vida daqueles de quem deseja extrair grandes coisas. Edgar Allan Poe, na mocidade, se sobressaía em todos os exercícios de agilidade e força. De acordo com o seu talento: cálculos e problemas. De estatura um pouco abaixo da média, era, apesar disso, dessas pess- oas que num grupo, em qualquer lugar, atraem o olhar do observador. Não que fosse belo, mas impressionava. Toda a sua figura refletia in- teligência, o sentido da idealidade e do belo absoluto. Era um conjunto agradável e harmonioso. Maneiras perfeitas, polidas e cheias de segur- ança. Não era um bom conversador, mas sua conversa era essencial- mente instrutiva. Diante de outras pessoas, falava quase sozinho. Tinha muito a dizer. O vasto saber, o conhecimento de várias línguas, os sólidos estudos, as ideias colhidas em diversas viagens por outros países faziam de sua palavra um ensinamento incomparável. Era um homem para ser frequentado por pessoas interessadas no valor espir- itual de uma convivência. Mas parece que Poe era exigente na escolha de seus ouvintes. Comentário de Charles Baudelaire, grande amigo do escritor Poe, em sua obra, se apresenta sob vários aspectos: crítico, poeta, ro- mancista e filósofo. É importante e brilhante em qualquer um deles. Nas críticas em que fazia guerra às imitações tolas, aos falsos ra- ciocínios, aos barbarismos e a todos os delitos literários que se comet- em diariamente nos jornais e nos livros, pregava com o exemplo. Seu estilo é puro, adequado às ideias, dando a elas a expressão exata. Poe é sempre correto. Com isso, fez amigos e arranjou inimigos. Como po- eta, Edgar Allan Poe representa, quase sozinho, o movimento romântico na América. “Os sinos”, “O corvo”, “Ulalume”, “Annabel Lee” e outros tornaram-se famosos numa bagagem literária diminuta.
- 9. Como novelista e romancista, Edgar A. Poe é único no gênero. Nenhum homem jamais contou com maior magia as exceções da vida humana e da natureza — o absurdo se instalando na inteligência e governando-a com uma lógica espantosa. A alucinação, a histeria, o homem descontrolado a ponto de rir quando sofre. Tudo, contado de maneira vertiginosa, obriga o leitor a seguir o autor em suas arrebata- doras deduções. Não é fácil recontar, resumindo, uma história de Edgar A. Poe. Ele próprio suprime o acessório. É tão sóbrio que a “semente” de suas histórias se torna logo visível. Há mesmo uma certa monotonia em al- guns empregos, como se estivesse sempre certo de interessar, pouco se preocupando em variar os meios. Como diz Baudelaire: “Não é mera apreciação da Beleza que está di- ante de nós, mas um violento esforço para superar a Beleza.” 9/130
- 10. O gato preto Todas essas criaturas — todas — a que chamas animadas, como aquelas a que negas a vida, sem razão melhor do que a de não as veres em ação — todas essas criaturas têm, em grau maior ou menor, capa- cidade para o prazer e a dor; mas a soma geral de suas sensações é, precisamente, aquele total de felicidade que pertence de direito ao ser divino, quando concentrado em si mesmo. E. A. Poe Amanhã morrerei e hoje quero aliviar minha alma. Por essa razão vou lhes contar tudo. Na verdade, tudo não passou de uma série de simples acontecimentos domésticos. Mas, pelas suas consequências, estes acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me aniquilaram. Espero que para os outros não pareçam tão terríveis. Para mim foram. Tanto que, até agora, penso que sonhei. Ou que enlouqueci. Não, louco não devo estar. É que foi demais, horrível demais. Inacreditável que tudo isso tenha acontecido. E ainda assim aconteceu. E logo comigo que, desde menino, fui sempre dócil, humano. Sempre tão cheio de ternura para com as pessoas, os animais, as coisas mesmo. Meus pais sempre permitiram que eu possuísse animais em casa. E eu tinha uma grande variedade de bichos, meus favoritos. Cuidava deles, dava-lhes carinho, atenção, amor. Tomavam grande parte do meu tempo. E as- sim continuei depois de crescido. Já adulto, meus momentos de feli- cidade eram aqueles passados junto a meus fiéis e inteligentes amigos animais. Alguma coisa no amor sem egoísmo e abnegado de um anim- al atinge a alma dos que já experimentaram o erro, a fragilidade, a fi- delidade da afeição do homem simples. Casei-me muito moço. Tive sorte. Minha mulher possuía um caráter adequado ao meu. Sentiu logo minha predileção pelos animais domésticos. Não perdia, então, oportunidade de procurar os das espé- cies mais agradáveis. Pássaros, peixes dourados, um belo cão, coelhos,
- 11. um macaquinho e um gato. Este último era um animal lindo. Grande, todo preto. E muito inteli- gente. Essa inteligência era pouco comentada porque minha mulher, embora não fosse supersticiosa, referia-se com frequência à crença popular que olha os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Plutão — assim se chamava o gato — era o meu preferido e compan- heiro. Andava comigo por onde eu andasse. Com dificuldade eu o impedia de seguir-me pelas ruas. Essa amizade durou muitos anos. E só se modificou porque uma transformação geral se operou em mim, por força do álcool. Depois de adquirir o vício, mudei minha maneira de agir, de pensar, de ser. Dia a dia fui me tornando calado, irritável, agressivo. Meus sentimentos, minha linguagem eram rudes. Eu me embrutecera. Não só descuidei- me de mim, de minha mulher e de meus bichos, como os maltratava com a maior crueldade. Cheguei ao ponto da agressão física. Durante algum tempo, Plutão, o gato de minha estima, escapara de minhas vi- olências. Por fim, conforme se agravava o meu estado, até mesmo Plutão experimentou os efeitos do meu temperamento. Uma noite, voltei para casa bastante embriagado. Pareceu-me que o gato me evitava. Fugia de minha presença. Insisti. Agarrei-o. Deu-me uma dentada de leve. Foi o quanto bastou para que eu me tomasse de fúria. Cheguei a me desconhecer. Era como se minha alma me houvesse abandonado. Uma diabólica maldade se apossou de mim e vibrou todas as fibras do meu corpo. Agarrei o gato. Prendi-o pela gar- ganta. Com um canivete, arranquei-lhe um dos olhos! Pela manhã, já livre dos efeitos do álcool, restava em mim uma sensação de horror e remorso pelo crime de que me tornara culpado. Era, entretanto, uma sensação fraca e enganosa, pois a alma permane- cia insensível. Novamente caí nos excessos do vício, e a lembrança do meu ato se desmanchou na bebida. Devagar, o gato ia sarando. Parecia não sofrer nenhuma dor, mas a aparência — o olho arrancado, a órbita vazia — era horrível. Fugia 11/130
- 12. apavorado à minha aproximação. Chegou a doer um pouco, no princí- pio. Não era bom saber daquela aversão por parte de uma criatura que tinha sido, antes, amada por mim. Aquele temor ou apenas ódio que o animal sentia foi me fazendo irritado. Daí ao espírito de perversidade foi um pequeno passo. Esse espírito de perversidade veio a causar a minha ruína total. Certa manhã, a sangue-frio, enforquei-o no galho de uma árvore. Enforquei-o porque sabia que ele me havia amado e porque sentia que não me dera razão para ofendê-lo. Enforquei-o porque sabia que, as- sim fazendo, estava cometendo um pecado mortal. E esse pecado iria pôr em perigo a minha alma imortal. Na noite do dia em que pratiquei essa cruel façanha, acordei no meio da noite com os gritos: fogo! As cortinas de meu quarto estavam em chamas. A casa inteira ardia. Com grande sacrifício escapamos vivos, mas a destruição foi completa. Perdi toda a minha fortuna. Entreguei- me ao desespero. Não quero pensar se essa desgraça teve alguma re- lação com as atrocidades cometidas por mim. Mas também não quero deixar que seja esquecido nem um elo dessa cadeia. Visitei os restos de minha casa no dia seguinte ao incêndio. Todas as paredes haviam caído, exceto uma, talvez a mais fina, que ficava mais ou menos no meio da casa e encostada à qual ficara a cabeceira de minha cama. O reboco havia resistido, em grande parte, à ação do fogo. Talvez por ser mais novo do que o resto da casa. Fora colocado ali recentemente. Em torno dessa parede havia uma multidão reunida a comentar com exclamações: “Estranho!”, “Nunca visto!” Aproximei- me e vi, como se gravada em baixo-relevo, a figura de um gato gi- gantesco. Com muita nitidez, podia-se notar uma corda em redor do pescoço do animal. Os primeiros momentos, ao dar com a aparição, eu os passei em es- panto e terror extremos. Depois refleti. Ora, eu enforcara o gato no jardim, junto da casa. Ao alarma de fogo, esse jardim se encheu de gente. Alguém deve ter cortado a corda que prendia o bicho à árvore e o atirara por uma janela aberta, dentro do meu quarto. Sem dúvida 12/130
- 13. para despertar-me. Naturalmente o animal ficara comprimido àquela parede, colado à massa de estuque, amolecida. Tudo isso — a cal, as chamas, o calor e o amoníaco do cadáver — traçara aquela imagem que ali estava. Mesmo assim, minha consciência não se sentiu tranquilizada. Durante meses não pude me libertar do fantasma do gato. Remorso? Não era. Sei que passei a procurar, nos lugares que eu frequentava, um outro bicho da mesma espécie e bem semelhante para substituí-lo. Nesse tempo, eu frequentava os lugares mais sórdidos. Uma noite, sentado num daqueles antros, embrutecido pelo excesso de bebida, vi repousando, em cima de um imenso barril, um gato preto. Muito grande, tão grande quanto Plutão. Totalmente semelhante a ele, ex- ceto em um ponto. Plutão não tinha pelos brancos em parte alguma do corpo. Mas este gato tinha uma larga mancha branca cobrindo quase todo o peito. Acariciei-o. Levantou e encostou-se à minha mão, satis- feito com o meu carinho. Daí não me deixou mais. Quando voltei para casa, o animal acompanhou-me. Deixei-o que o fizesse, parando e dando-lhe palmadinhas, enquanto me seguia. Ao chegar a casa, ele imediatamente se familiarizou com ela e tornou-se logo o grande fa- vorito de minha mulher. Não demorou muito para que eu começasse a sentir antipatia por ele. Não sei por quê, mas sua amizade por mim me desgostava e aborrecia. Aos poucos esse sentimento de desgosto e aborrecimento se transfor- mou na amargura do ódio. Evitava o animal. Ele despertava em mim uma certa vergonha. E a lembrança de minha antiga crueldade me im- pedia de maltratá-lo fisicamente. Um fato veio aumentar o meu ódio pelo animal. Descobri que, como Plutão, também fora privado de um de seus olhos. Isso, entretanto, só fez aumentar o carinho de minha mulher por ele. E a predileção do gato por mim cada dia aumentava mais. Estava sempre onde eu est- ivesse. Aos meus pés, debaixo de minha cadeira, nos meus joelhos, acariciando-me sempre. O leitor há de recordar-se que esse estranho animal trazia uma marca 13/130
- 14. de pelo branco no peito, o que constituía a única diferença entre ele e o outro. Observando melhor, notei que a mancha, antes imprecisa, as- sumia uma rigorosa precisão de contorno. Era agora a reprodução ex- ata de uma coisa horrenda, apavorante: uma forca. Máquina terrível de horror, de crime, de agonia e morte. Eu era, em verdade, um condenado. E o bronco animal, cujo compan- heiro eu destruíra, preparava, para mim, homem formado à imagem do Deus Altíssimo, tanta angústia e aflição. Noite e dia, em todos os momentos de minha vida, eu não conseguia mais a graça do repouso. Atormentado, perseguido, durante o dia, pelo horrível bicho, e à noite, pelos sonhos de pavor, eu deixava morrer em mim os restos de bondade e de bons sentimentos. Estava cheio de maus pensamentos. Os mais negros e maléficos. Eu já não odiava só o gato. Odiava todas as coisas. A humanidade toda. Quem mais sofria com minhas crises de mau humor era minha resignada esposa. Era a mais paciente das min- has vítimas. Certo dia ela me acompanhou até a adega do velho prédio para alguma tarefa doméstica. O gato descera os degraus, seguindo-nos. De repente embaraçou-se nas minhas pernas, quase me atirando ao chão. Fiquei possesso. Enlouquecido pela cólera, esqueci o medo infantil que, até ali, detivera a minha mão. Ergui o machado e descarreguei um violento golpe no animal, que certamente teria morrido se não fosse a intervenção de minha mulher. Essa interferência deixou-me com uma raiva mais do que demoníaca. Puxei o meu braço de sua mão e enterrei o machado no seu crânio. Ela caiu morta, sem um gemido. Restava-me a tarefa de ocultar o corpo. Não poderia ser removido, de dia nem de noite, nem ser visto pelos vizinhos. Muitas soluções me passaram, en- tão, pela cabeça. Nenhum projeto, porém, me pareceu bastante bom. Afinal decidi-me pelo que oferecia menos riscos. Resolvi emparedar o corpo na adega. Esta se prestava bem para isso, pois era de construção grosseira e descuidada, e o reboco nunca secara totalmente devido à umidade. Havia mesmo um vão que parecia feito a propósito. Não tive dúvidas. Com facilidade, retirei os tijolos naquele ponto e ali coloquei 14/130
- 15. o cadáver. Emparedei tudo como antes, de modo que ninguém, nem em sonhos, suspeitasse. Quando terminei, senti-me satisfeito. Tudo estava perfeitamente entijolado. A parede não apresentava o menor sinal de que tivesse sido modificada. Tratei, em seguida, de procurar o animal que fora a causa de tamanha desgraça. Se tivesse podido encontrá-lo, eu o teria liquidado. Com uma sensação de alívio passei o resto do dia. À noite não apareceu também. Assim, por uma noite, pelo menos, desde que ele havia entrado na casa, dormi profunda e tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com o peso de uma morte na alma. Três dias se passaram e meu carrasco não apareceu. Mais uma vez respirei como um homem livre. O monstro abandonara a casa para sempre. Aterrorizado, talvez. Não mais o veria! Minha felicidade era completa! Nem a culpa da minha negra ação me perturbava. Foram feitos interrogatórios e todos foram respondidos. Eu já dava como as- segurada a minha tranquilidade. No quarto dia após o crime, apareceu um grupo de policiais. Inespera- damente, para uma rigorosa investigação. Confiante no trabalho que executara, não senti o menor receio. Tudo foi minuciosamente exam- inado. Por fim, desceram à adega. O coração batia-me calmo no peito. Assim como o de quem dorme o sono da inocência. Caminhei pela ad- ega, de ponta a ponta. Braços cruzados, passeava tranquilo para lá e para cá. Os policiais, satisfeitos, preparavam-se para sair. A minha alegria era demais para ser contida. Eu precisava dizer alguma coisa para deixar fora de dúvida a minha inocência. — Senhores — eu disse por fim, quando o grupo já subia a escada. — Sinto-me encantado por ter desfeito suas suspeitas. Desejo a todos saúde. A propósito, esta é uma casa bem-construída... Posso garantir que é uma excelente construção. Essas paredes, cavalheiros, estão soli- damente edificadas. Aí, no frenesi da bravata, bati com força, com uma bengala que trazia à mão, naquela parte do entijolamento, por trás do qual estava o cadáver da mulher que eu amara. 15/130
- 16. Mas, santo Deus, apenas ecoou, no silêncio, o som de minhas panca- das, logo uma voz respondeu-me do túmulo. Um gemido, depois um soluço, um grito. Prolongado e alto, anormal e inumano, um urro, um guincho lamentoso, cheio de horror e triunfo, como só do inferno se pode erguer das gargantas dos danados na sua agonia e dos demônios na danação. Recuei até a parede oposta. O grupo se imobilizou na escada, tomado de pavor. Todos se aproximaram da parede e puseram-se a desmanchá-la. Ela caiu inteiriça. O cadáver, já decomposto, manchado de coágulos, erguia-se ereto aos olhos dos presentes. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e o olho solitário faiscando, estava assentado o horrendo animal. O gato que me levara ao crime e cuja voz delatora me havia entregue ao carrasco. Eu já havia emparedado o monstro no túmulo. A máscara da morte rubra Parece porque é. E. A. Poe Durante muito tempo a peste devastara aquele país. O sangue era a sua horrível marca. Dores agudas, vertigens, hemorragia pelos poros. Manchas vermelhas pelo corpo, a morte. A decomposição. E todo o processo não durava mais que meia hora. No entanto, o príncipe Próspero era feliz. Jovem, inteligente, corajoso. Propôs a si mesmo vencer a morte rubra. Quando viu seus domínios despovoados da metade de seus habitantes, resolveu pôr em prática um plano que venceria a destruição. Reuniu seus amigos sadios e jovens. Damas e cavalheiros, mil pessoas ao todo. Retirou-se com eles para uma de suas abadias fortificadas. Edifício imenso, magnífico. Bem ao gosto excêntrico do príncipe. Cer- cado de alta muralha reforçada. Fechado com portões de ferro. Para 16/130
- 17. evitar a entrada ou saída dos súditos, mandou rebitar os ferrolhos. Assim protegidos, seria impossível o contágio. O mundo exterior que se arranjasse. Lá dentro, o príncipe previu tudo. Nada faltava. Até di- versões. Música, bailarinos, vinho. Lá dentro, tudo isso e mais a segur- ança. Lá fora, o desespero, a morte rubra. Alguns meses depois, enquanto a peste devorava, com fúria alucinada, o que restava de seu povo, o príncipe ofereceu a seus mil amigos um luxuoso baile de máscaras. A abadia que lhes servia de refúgio era um suntuoso palácio muito ao gosto do príncipe. Ali seria realizada a festa, ocupando os sete salões estranhamente decorados. Já a sua disposição de maneira irregular só dava visão a pouco mais de um de cada vez. Difícil, portanto, uma visão geral daquelas salas tão originais. Todas com acesso pelo mesmo corredor, tão interligadas, de certa maneira, e, ao mesmo tempo, tão isoladas, terrivelmente separadas e perdidas. As janelas dispunham de vitrais coloridos de acordo com o tom dominante da peça. Por exem- plo, se o aposento era azul, de azul-vivo eram as janelas. E havia branco, verde, púrpura, laranja, roxo e negro. Este era o sétimo. Total- mente coberto de veludo preto. Teto, paredes, tapete. Somente aí nesta sala a cor das janelas não correspondia à das decorações. Os vitrais eram vermelhos, sangue vivo. Em qualquer uma das peças não havia lâmpada ou candelabro. Nenhuma espécie de luz iluminava dentro dessas salas. Mas, fora, no corredor, mesmo em frente a cada janela, um pesado tripé com um braseiro. Os raios se projetavam nos vitrais coloridos, produzindo efeitos deslumbrantes. Uma visão fantástica. Na sala negra, porém, o efeito do clarão do braseiro caía sobre as cortinas negras, através dos vidros cor de sangue, dando a tudo uma aparência lívida, de morte. Poucos ousavam penetrar ali. Era neste salão que se erguia, junto à parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. O pêndulo movia-se para lá e para cá, vagaroso, pesado, monótono. Um som musical, claro, elevado e agudo indicava cada hora certa. De hora em hora, portanto, os músicos interrompiam sua execução para ouvir o som que emanava dos pulmões de bronze. E 17/130
- 18. todos paravam. E o som perturbava a todos. Os mais alegres empalide- ciam. Os idosos e serenos pareciam meditar. Mal cessavam os ecos do carrilhão, as risadas explodiam, os músicos se recompunham e reco- bravam a calma e a alegria. A reunião prosseguia até que, passados os sessenta minutos, o relógio voltasse a obrigá-los a parar. Para pensar, para lembrar, para temer. O príncipe tinha gostos característicos. Sabia de cores e efeitos. Suas concepções eram arrojadas, vivas e brilhantes. Muita gente o julgava louco. Era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para saber ao certo que não o era. A ornamentação para essa festa, as fantasias e tudo o que contribuía para o brilho e beleza da reunião foram obra sua. Havia de tudo. Muito de belo, de terrível. Concepções fantásticas. Criações de louco. E a multidão se divertia como num sonho, esquecida de tudo. Apenas o som do relógio os trazia de volta desse sonho a uma realidade que apa- vorava. Mas isso durava um instante apenas. Porque logo recomeçava. A gargalhada. A música. O sonho colorido. Sonho pintado com as cores das janelas multicoloridas, através das quais se filtravam os lu- minosos raios dos tripés acesos. Mas ninguém se aventurava até a sala negra. É que a noite estava chegando. E ali uma luz vermelha coloria tudo com tons apavorantes. Entretanto, o coração da vida palpitava nos outros salões cheios de gente. E tudo foi assim até soar a meia- noite. Então, houve uma paralisação geral. Por mais tempo. Mais per- turbadora. Nessa hora, muitos notaram a presença: alguém estranho, mascarado, com trajes que excediam os limites de decência e arrojo das criações do próprio príncipe. Não havia finura, nem conveniência. O tipo que a todos aterrorizava era alto e lívido. Coberto de mortalhas tumulares. No rosto, a máscara reproduzia a aparência de um cadáver enrijecido. Tudo isto seria tolerável se o mascarado não tivesse chegado ao ex- tremo de figurar o tipo da morte rubra. Seu traje estava salpicado de sangue, e a face coberta de horrendas placas vermelhas. O príncipe, quando viu aquela imagem rodopiando entre os 18/130
- 19. dançarinos, foi tomado de pânico. Enfurecido, ordenou que o agar- rassem e o desmascarassem. Seria enforcado ao amanhecer, fosse quem fosse o autor daquela sinistra pilhéria. A voz do príncipe atravessou todas as sete salas e foi ouvida por todos os cortesãos, paralisados, agora, por um indefinível terror. Esse mesmo terror impediu que detivessem o gesto louco do mascarado, tentando aproximar-se do príncipe. E avançava sempre mais, sem que alguém ousasse agarrá-lo. Ao contrário, movida por um só impulso, a multidão recuava, do centro para as paredes. O príncipe Próspero per- correu todas as seis salas, como que subitamente enlouquecido. Re- feito de sua momentânea covardia, perseguiu sozinho o vulto do es- tranho convidado, que passava rápido de uma sala para outra. Nen- hum movimento foi feito para detê-lo. Na extremidade do salão negro, o vulto parou e enfrentou seu perseguidor. Ouviu-se um grito. O pun- hal caiu sobre o negro tapete e, junto dele, mortalmente prostrado, tombou o príncipe. O desespero armou de coragem toda a multidão, que se lançou em cima do vulto mascarado e o aprisionou. Mas um indizível pavor paralisou a todos. Dentro da mortalha e por trás da máscara cada- vérica, não existia nada, nenhuma forma tocável. Ali estava a morte rubra. Nos salões da orgia, orvalhados de sangue, foram tombando, um a um, os sadios, jovens e bem-guardados amigos do príncipe Próspero. E a vida do relógio de ébano se extinguiu com a do último folião. E as chamas nos tripés se apagaram. E o ilimitado poder da Morte Rubra dominou tudo. Reinou, então, a Treva. E a Ruína. 19/130
- 20. O caso do Valdemar Eu não tinha medo de olhar as coisas horríveis, mas ficava apavorado com a ideia de nada ver. E. A. Poe O caso não ficou bem-contado na época em que se deu. É que as partes interessadas tudo fizeram para evitar a publicidade. E nosso esforço para uma investigação maior resultou numa narrativa exagerada e truncada do fato. Na verdade, tudo aconteceu assim. Nos últimos três anos, minha atenção estava totalmente voltada para o hipnotismo. Realizei repetidas séries de experiências. Um dia, porém, ocorreu-me que uma experiência importante estava faltando. Nin- guém fora, ainda, hipnotizado na hora extrema, no momento final da vida. Restava ver, primeiro, se à beira da morte havia no paciente qualquer suscetibilidade à influência. Segundo, no caso de haver al- guma, se era diminuída ou aumentada por esta circunstância. E, em terceiro lugar, até que ponto, ou por quanto tempo, a invasão da Morte poderia ser impedida pelo processo magnético. Para tal experiência vinha muito a propósito um amigo meu, o Ernesto Valdemar. Residia o Valdemar no Harlem, Nova York. Magro, de magreza extrema. Tuberculoso em último grau, tinha o hábito de falar sobre o seu fim próximo como uma questão que não devia ser lastim- ada, nem se podia evitar. Em várias ocasiões eu o fizera dormir com facilidade. Contudo, nunca sua vontade ficara inteiramente entregue à minha influência. Sempre atribuí meu insucesso ao seu precário estado de saúde. Quando me ocorreu a ideia de magnetizar alguém moribundo, foi, en- tão, muito natural que pensasse no Valdemar. Ele não tinha parentes na América que pudessem interferir, e eu con- hecia muito bem sua maneira de encarar as coisas. Com toda a fran- queza, sem nenhum escrúpulo, falei-lhe sobre o assunto. Recebeu bem 20/130
- 21. a ideia, concordou e pareceu até vivamente interessado. Sua enfermidade, no ponto em que estava, admitia exato cálculo da época em que se daria a morte. Ficou combinado então que, 24 horas antes do prazo marcado pelos médicos, ele me mandaria chamar. Faz agora, mais ou menos, sete meses que recebi do próprio Valdemar este bilhete: Meu caro P... Você pode vir agora. D... e F... concordam em que não posso durar além da meia-noite de amanhã, e penso que eles acertaram no cálculo com grande aproxim- ação. Valdemar Quinze minutos depois de recebido o bilhete, estava eu no quarto do moribundo. Era terrível o seu aspecto. A pele cinza-chumbo, olhos sem brilho. Magro, os ossos quase rompiam a pele. Expectoração ex- cessiva. Pulso quase imperceptível. Conservava, contudo, a lucidez da mente e muita força física. Falava claramente. Tomava seus remédios paliativos sem auxílio. Quando entrei no quarto, ele escrevia num caderninho de notas. Apoiava-se em travesseiros. Cuidavam dele os doutores D... e F... Após cumprimentar meu amigo, procurei obter informações sobre o seu estado, conversando à parte com os dois médicos. De fato, era o fim. O pulmão esquerdo, semicalcificado, tornara-se in- útil a qualquer função vital. O direito, na mesma situação, transformara-se numa massa de tubérculos purulentos. Além da tísica, suspeitavam de aneurisma da aorta. E, na opinião de ambos os médi- cos, o Valdemar morreria, mais ou menos, à meia-noite do dia seguinte, domingo. Estávamos às sete da noite de sábado. Apesar de haverem dado o adeus definitivo ao doente, os drs. D... e F..., a meu pedido, concordaram em voltar na noite seguinte. Dois en- fermeiros, um homem e uma mulher cuidavam dele. Quando ficamos 21/130
- 22. sozinhos, falei francamente com o Valdemar sobre a sua morte próx- ima. E sobre a experiência. Lúcido, mostrou-se ainda de pleno acordo. Eu é que estava em dúvida. Uma tarefa dessa natureza requeria testemunhas dignas de mais confiança. Estava disposto a adiar as op- erações até as oito da noite seguinte. Mas a chegada de um estudante de medicina libertou-me de qualquer embaraço. O próprio Valdemar estava ansioso pela experiência, sabendo que não tinha um minuto a perder. Era evidente a rápida aproximação de seu fim. O jovem estudante propôs-se a tomar nota de tudo o que ocorresse. É dessas notas o resumo do que vou contar agora. Faltavam cinco para as oito. Tomei a mão do Valdemar. Pedi-lhe, en- tão, que confirmasse, diante dos presentes, se estava de acordo em que eu o hipnotizasse no estado em que se encontrava. Respondeu: — Sim. Desejo ser magnetizado. Receio que você tenha demorado muito. Comecei os passes. Eu já sabia quais os de maior efeito sobre ele. Pouco depois das dez, chegaram os dois médicos. Expliquei-lhes o que pretendia. Não houve nenhuma objeção da parte deles. O paciente já estava em agonia mortal. Continuei a operação. Passes laterais, outros descendentes, meu olhar fitando sempre o olho direito do moribundo. Pulso imperceptível, respiração a intervalos de meio minuto. Ex- tremidades geladas. Mas nenhum sinal de influência magnética. Prossegui com os passes até que as pálpebras estremeceram e pude fechá-las totalmente. Continuei, entretanto, até vê-lo completamente relaxado. Braços, pernas e tronco em completo repouso. À meia-noite em ponto, terminei. Pedi que o examinassem. Foi con- statado o sono mesmérico. Os médicos estavam excitados. Tanto que o dr. D... resolveu logo ficar ao lado do paciente a noite inteira. Quanto ao dr. F..., se despediu, prometendo voltar ao amanhecer. Os outros ficaram. Deixamos o Valdemar em sono tranquilo até às três da madrugada. Nessa hora, aproximei-me e vi que estava na mesma situação em que o 22/130
- 23. havíamos deixado. Imóvel. Pulso imperceptível. Olhos fechados. Membros rígidos e frios como mármore. A respiração só percebida pelo espelho colocado nos lábios. Mas a aparência geral não era a da morte. Fiz um gesto com o meu braço e ele prontamente acompanhou com o seu. Perguntei: — Valdemar, está adormecido? As palavras brotaram num sussurro: — Sim... estou adormecido agora. Não me desperte. Deixe-me morrer assim. — Sente ainda dor no peito, Valdemar? — Dor nenhuma... Estou morrendo. Nada mais perguntei. Deixei-o dormir. Pouco antes do amanhecer, voltou o dr. F... Seu espanto foi sem lim- ites ao ver o paciente ainda vivo. Aplicou-lhe o espelho aos lábios, tomou-lhe o pulso. Pediu-me que repetisse as perguntas. Obedeci: — Valdemar, ainda está dormindo? Passaram-se uns minutos. Parecia que o moribundo reunia energias para falar. Afinal, disse com voz fraca: — Sim... durmo ainda... estou morrendo. Os médicos acharam que, agora, o Valdemar devia ser deixado tran- quilo. Todos concordaram que a morte não tardaria. Resolvi, porém, repetir mais uma vez a pergunta. E perguntei. Uma sensível mudança se operou no hipnotizado. Os ol- hos se abriram. A pele tornou-se cadavérica. O lábio superior retraiu- se, descobrindo os dentes. O maxilar inferior caiu, com ruído, deixan- do a boca escancarada. Apareceu uma língua inchada, negra. Tão hor- renda era a aparência do Valdemar que todos recuaram apavorados. Aqui, mesmo que o leitor não me acredite, é meu dever continuar. Já não havia mais sinal de vida no corpo do Valdemar. Íamos entregá- lo aos cuidados dos enfermeiros quando vimos um forte movimento vibratório na língua, o qual durou alguns minutos. Quando isto ter- minou, surgiu dos queixos, separados e imóveis, uma voz. Uma voz tal 23/130
- 24. que seria loucura eu tentar descrever. Áspera, entrecortada, cavernosa, vinda de uma distância como se estivesse saindo do fundo da terra. O Valdemar falava. Falava um som gelatinoso, pegajoso, como uma pasta podre. Estava respondendo à pergunta que, anteriormente, eu lhe fizera: se ele estava dormindo. — Sim... Não... Estava dormindo... E agora... agora... estou morto. Um calafrio de horror sacudiu a todos. O estudante desmaiou. Os en- fermeiros saíram do quarto e negaram-se a voltar. Depois que atendemos o jovem, voltamos a examinar o “morto”. Tentou-se tirar-lhe sangue. Nada. O braço também não obedecia à minha vontade. A única demonstração da influência magnética achava-se no movimento vibratório da língua. Quando eu lhe dirigia uma pergunta, havia um visível esforço para re- sponder. Quanto às perguntas feitas por qualquer outra pessoa, per- manecia totalmente insensível. E eu tentara colocar cada membro do grupo em relação magnética com ele. Creio que contei tudo quanto é necessário para uma compreensão daquele momento. Outros enfer- meiros foram admitidos e, às dez horas, deixei a casa, em companhia dos médicos e do estudante. À tarde fomos chamados novamente. Seu estado era o mesmo. Estava claro que, até ali, a morte fora detida pela ação magnética. Despertar o Valdemar seria assegurar-lhe a morte ou apressar-lhe a decomposição. Continuamos nossas visitas, durante quase sete meses. Diariamente íamos à casa do Valdemar, acompanhados por médicos e outros ami- gos. Durante este tempo, o magnetizado permanecia exatamente como já descrevi. Sempre cuidado pelos enfermeiros. Na sexta-feira passada resolvemos, finalmente, tentar despertá-lo. E o resultado desta última experiência deu origem a inúmeras discussões. Para despertá-lo, fiz uso dos passes habituais. Nada aconteceu durante algum tempo. Depois, nos olhos entreabertos, a íris foi aparecendo. E conforme a pupila vinha descendo, um líquido amarelado saía de sob as pálpebras, com um cheiro azedo e repugnante. Foram em vão as tentativas de influenciar o braço do paciente. 24/130
- 25. Perguntei-lhe, então: — Valdemar, pode dizer-me quais são os seus sentimentos ou desejos agora? A língua vibrou na boca endurecida, de lábios rígidos. Por fim, a mesma voz horrenda “soou” no quarto: — Pelo amor de Deus! Depressa, depressa... Faça-me dormir... ou, en- tão, depressa... acorde-me. Depressa... Afirmo que estou morto!... Eu estava nervoso. Fiquei sem saber o que fazer. Tentei acalmá-lo, mas fracassei. Fiz, então, o contrário. Lutei para despertá-lo. Vi logo que daria certo. E todos no quarto se prepararam para ver o doente despertar. Mas, para o que ocorreu, duvido que algum ser humano pudesse estar preparado. Enquanto eu fazia rapidamente os passes, ele pronunciava “Morto! Morto!”, o som saindo da língua e não dos lábios. De repente, num minuto, o corpo contraiu-se... quebrou-se em pedaços, absolutamente podre, sob minhas mãos. Sobre a cama, diante de toda aquela gente, restou uma quase líquida massa de nojenta e horrível podridão. Manuscrito encontrado numa garrafa O que aqui adianto é verdade; isto, portanto, não pode morrer — ou se por acaso viesse a ser esmagado, a ponto de morrer, “de novo ressus- citará na vida eterna”. E. A. Poe Repito, pois: tentemos compreender que o globo dos globos afinal de- saparecerá, instantaneamente, e que só Deus permanecerá, único, total. E. A. Poe 25/130
- 26. Quem não tem mais do que um momento para viver nada mais tem a esconder. Quinault — Atys Quero deixar claro que não sou supersticioso. Não me deixo levar pelo delírio da imaginação. Para isso tenho uma boa educação e cultura acima do comum. E certa tendência contemplativa desenvolveu no meu espírito uma capacidade de análise que me favorece distinguir, com nitidez, o falso do verdadeiro. Sou um cara consciente. Estou es- clarecendo bem isso para que sintam, na incrível história que eu vou contar, a experiência positiva de um espírito livre de fantasias. Por muitas razões, afastei-me de minha terra e de minha família. Mui- tos anos passei numa viagem ao estrangeiro. Sempre partindo de um lugar para outro. Uma espécie de inquietação nervosa, como um de- mônio dentro de mim, não me deixava parar. Eis-me, então, como passageiro, saindo do porto de Batávia. Esse porto ficava na populosa e rica ilha de Java. E a viagem seria às ilhas do arquipélago. Nosso barco era um belo navio. Quatrocentas toneladas, forrado de cobre. Sólido, forte. Ia carregado de algodão, óleo, fibra de coqueiro, açúcar, cocos e ópio. Mas esta carga fora mal-arrumada e o navio tombava um pouco. Durante dias, navegamos ao longo da costa, sem incidentes. Tran- quilos todos, nos divertíamos com os pequenos caranguejos do ar- quipélago, de onde não nos afastávamos. Certa noite notei a noroeste uma nuvem estranha. Isolada, era uma es- treita faixa no horizonte, como se fosse uma longa linha de praia baixa. Fiquei debruçado no corrimão da popa, observando. Vi, mais tarde, a lua tornar-se de um vermelho escuro. E o mar sofrera rápida mudança. Era transparente agora. Podia-se-lhe ver o fundo. O ar quente, pesado. À noite, reinou a calmaria mais completa. O capitão garantia não haver perigo algum. Foram todos dormir, portanto, sem nenhuma vigilância. Eu, confesso, desci também, mas com um pressentimento de desgraça. 26/130
- 27. À meia-noite subi ao tombadilho. Com o pé no último degrau, assustei-me. Um rumor alto, seguido de uma onda imensa, fez tremer o navio no centro. A água varreu o tombadilho de ponta a ponta. O vendaval, em sua fúria, mantinha o navio erguido. Já sem mastros, completamente inundado, cambaleava sob a tremenda pressão da água e, afinal, o vento furioso aprumava-o novamente. O mesmo acontecia comigo e o velho sueco, os dois únicos sobreviventes do de- sastre. Todos os que se achavam no tombadilho, com exceção de nós dois, tinham sido atirados ao mar. O capitão e os pilotos deviam ter morrido enquanto dormiam. Seus camarotes estavam inundados. Nós dois estávamos paralisados ante a expectativa de ir ao fundo. Os estra- gos que sofrêramos eram enormes, e, nas condições precárias em que nos encontrávamos, não sabíamos o que era pior: se a violência do fur- acão ou a sua cessação total. Nesse último caso, seria impossível sobreviver à ressaca que viria depois. Durante cinco dias e cinco noites, o velho navio deslizou velozmente à frente do vento fortíssimo. Nossa alimentação era uma pequena quan- tidade de açúcar, tirada, com dificuldade, do castelo da proa. No quinto dia fazia muito frio. O vento carregou-nos mais para o norte. O sol apareceu fraco, com um brilho amarelado. Não se viam nuvens, mas o vento continuava soprando com fúria. Ficamos atentos ao sol, que mostrava uma aparência nunca vista. Não lançava luz, mas um clarão embaçado e triste. E incerto. Como se estivesse se apagando, por alguma força inexplicada. Estávamos dentro de uma noite, treva cerrada envolvendo-nos por todos os lados. E era apenas meio-dia. Observamos que a tempestade prosseguia com violência indomável. Não se podia ver, na escuridão, se o aspecto do mar era uma ressaca ou de espuma, tão nosso conhecido. Tudo em redor era horror e treva espessa e deserto negro. Um terror supersticioso tomou conta de nós, e minha alma se envolveu num espanto mudo. Agora, deixamos de lado o cuidado que vínhamos tendo com o navio. Tornara-se uma coisa inútil. Tratamos de amarrar-nos o melhor que nos foi possível ao toco do mastro. E, com amargura, contemplamos a 27/130
- 28. imensidão do oceano. Apesar de não podermos calcular o tempo, nem formar uma ideia certa sobre nossa situação, estávamos certos, porém, de que havíamos nos adiantado para o sul, mais do que qualquer outro navegante. O que nos espantava era o fato de não havermos encon- trado os blocos de gelo que sempre constituíam obstáculos às viagens por aqueles mares. Um milagre parecia estar acontecendo. Não entendíamos como é que ainda nos conservávamos vivos. Esperávamos que cada minuto fosse o nosso último, tamanhas eram as vagas que nos ameaçavam. É certo que nossa carga era leve, o barco de excelente qualidade. Mas, de qualquer maneira, eu estava me preparando para a morte. Aquele movimento terrível das ondas, levantando-nos a alturas imensas e logo nos atirando com violência no fundo do abismo, causava-nos hor- ríveis vertigens. E foi numa dessas que ouvi a voz do meu companheiro elevando-se apavorante, dentro da noite: — Olhe, veja! Deus Todo-Poderoso! Olhe! E, ao ouvi-lo falar assim, avistei um clarão embaçado, vermelho, que enchia os lados do vasto abismo onde nos achávamos. Reparando mel- hor, pude ver o vulto negro de um gigantesco navio, de talvez quatro mil toneladas. Todo negro, o único enfeite que trazia era uma fileira de canhões de bronze. Suas superfícies polidas refletiam os fogos de in- úmeras lanternas de combate, que balançavam para lá e para cá. Mas o que nos horrorizou e espantou mais foi que ele velejava, a todo pano, no meio daquele furacão desenfreado e enfrentando aquele mar sobrenatural. Tomado de coragem, eu esperava, no alto da popa, a ruína que ia nos engolfar. Nosso próprio navio havia cessado sua luta e afundava a proa n’água. O choque da massa que descia feriu-o, con- sequentemente, naquela parte de seu arcabouço que estava quase de- baixo d’água. Com isso, fui atirado, com incrível violência, sobre o cor- dame do estranho navio. Quando eu caí, o navio virou de bordo. Por essa razão, não fui perce- bido pelos tripulantes, que ainda estavam atordoados pela confusão. Passei por eles sem ser notado e ocultei-me no porão. Não sei explicar 28/130
- 29. por que fiz isso. Sei que se apoderou de mim um indefinido senso de medo, logo que avistei os navegantes. Para mim aquilo tudo era novo, estranho, sem explicação. Portanto, motivo para eu estar apreensivo. Melhor que eu ficasse escondido até ver aquele mistério esclarecido. Assim, afastei uma pequena parte do assoalho de tábuas, de onde eu pudesse observar sem ser visto. Mal terminara meu serviço quando um rumor de passos se aproxim- ando me obrigou a ocultar-me rapidamente. Um homem passou junto de meu esconderijo. Seus passos eram vacilantes, incertos. Pelo as- pecto geral, parecia bastante velho e enfermo. O corpo todo trêmulo. Falava baixo. Palavras numa língua que eu não podia entender. Às ap- alpadelas, parecia procurar alguma coisa na pilha de instrumentos es- tranhos e cartas de navegação já estragadas. Mistura selvagem da rabugice do velho e da solene dignidade de um deus. Depois, subiu ao tombadilho. Não mais o vi. Mas isto aumentou em mim aquela sensação que, até agora, não sei explicar. Impossível analisar o sentimento de que me via possuído. Re- ceio que nem o próprio futuro me dará a chave. A minha educação e o nível de cultura do meu espírito não me permitiam aceitar minhas novas concepções. Eu estava preocupado. E não estava satisfeito. Sim, aquelas concepções indefinidas nascidas ali, de fonte tão extrema- mente nova, não me satisfaziam. Um novo sentimento — uma nova entidade é acrescentada à minha alma. Já faz muito tempo desde que pisei pela primeira vez naquele terrível navio. Homens incompreensíveis! Mergulhados em meditações de cuja espécie nem desconfio. Passam, passam por mim. Ninguém me vê. Já não preciso ocultar-me. Esta gente não me quer ver. Agora mesmo passei debaixo dos olhos do piloto. Entrei no camarote particular do capitão. Tirei o material com que escrevo e tenho escrito. Continuarei este diário. Não sei por que meio eu o transmitirei ao mundo. Mas nem por isso deixarei de tentar. No último instante, en- cerrarei o manuscrito numa garrafa e lançá-la-ei ao mar. 29/130
- 30. Ocorreu um incidente que me tem feito pensar. Eu subira ao tombadilho e, sem chamar a atenção de ninguém, deitara-me no fundo de um escaler. Ali fiquei meditando sobre minha sorte. Enquanto isso, distraidamente, ia pintando, com uma brocha de alcatrão, as pontas de uma vela bem dobrada, que ali fora posta. Esta vela está agora aberta, estendida sobre o navio. E os pontos onde a brocha a tocou formaram a palavra descoberta. Será isto ação do acaso? Recentemente descobri que, embora bem-armado, este navio não é um vaso de guerra. Todo o resto do equipamento também assim o prova. O que ele não é pode-se facilmente perceber. O que ele é receio ser impossível dizê-lo. Não sei explicar bem, mas vejo claramente que tudo o que aqui se en- contra, dos objetos até a forma antiquada deste estranho navio, me é familiar. Tudo me atravessa a memória e aí se mistura a lembranças de velhas lendas e de séculos muito antigos. Tenho observado bastante essa embarcação. O material de que é feito eu não conheço. Madeira porosa demais, imprópria para o uso a que foi destinada. A podridão, a velhice, os estragos do mar e dos vermes parece que a dilataram. Esse navio não só envelheceu. O seu aspecto é de que cresceu também. Agora me lembro das palavras de um velho marujo holandês: “É tão certo”, dizia ele quando se punha dúvida no que afirmava, “como é certo que existe um mar, onde o próprio navio cresce em tamanho, como o corpo vivo do marinheiro.” Aqui todos são desligados. Ninguém presta atenção em ninguém. Eu, no meio deles, e eles, inconscientes de minha presença. E todos com os mesmos sinais de encanecida velhice, como o primeiro deles que vi no porão. Joelhos trêmulos, ombros curvados, pele enrugada, voz baixa, cabelos embranquecidos, a decrepitude marcando todos os ges- tos. E à volta, espalhados, instrumentos e cartas de navegação dos fei- tios mais fantásticos e antigos. Depois da colocação da vela de que já falei, o navio continuou sua direção terrível, rumo ao sul. Levado pelo vento contrário, subia, 30/130
- 31. descia, tombava, aprumava-se no mais assombroso inferno de água que a mente do homem é capaz de imaginar. Deixei o tombadilho porque era impossível manter-me equilibrado, embora a tripulação parecesse nada sentir. Nessa altura julgava um milagre o fato de que o nosso imenso casco não tivesse sido tragado de uma vez e para sempre. Suponho que estamos condenados a vagar sobre a orla da eternidade, sem nunca dar o mergulho final no abismo. As águas são como de- mônios das profundezas. Limitam-se à ameaça, para castigar, mas são incapazes de destruir. É como se o navio estivesse dentro de misteri- osa corrente ou ressaca impetuosa. Vi o capitão, frente a frente. Como eu já esperava, não me deu atenção. Nem me viu. Não que houvesse, em sua aparência, algo que lhe desse o aspecto de um ser humano superior ou inferior. Mas eu o contemplei maravilhado, cheio de reverência. Era tão alto quanto eu. Bem-tal- hado, sólido, forte, apesar da velhice extrema e avançada. Também ele examinava livros enormes, com fechos de ferro, mapas antigos, tudo fora de moda e de uso. Por muito tempo, contemplou um papel que levava a assinatura de um rei. Era uma nomeação, ou coisa assim. Também as palavras que saíam, sussurradas, de seus lábios eram de uma língua estranha. Embora estivesse muito perto de mim, sua voz me chegava como se viesse da distância de uma milha. O navio, não resta dúvida, deve ter vindo do passado. E imbuídas do espírito do passado estão todas as coisas nele encerradas. Os tripu- lantes são como fantasmas de séculos sepultos e deslizam para lá e para cá com uma estranha expressão no olhar. Quando olho à minha volta, sinto-me envergonhado pelos meus temores primitivos. Tremi diante da tempestade. Do furacão. Diante da guerra, do vento e do mar. Tudo isto é nada diante do que se passa aqui. Tudo, na vizinhança do navio, é a treva da eterna noite e o caos da água sem espuma. Mas, a cerca de uma légua para cada lado, po- dem ser vistos prodigiosos montes de gelo, elevando-se para o céu des- olado como se fossem as muralhas do universo. 31/130
- 32. Assim eu imaginara: o navio estava dentro de misteriosa corrente, se nome pode ser dado, com propriedade, a uma torrente que vai, ru- gindo e ululando, passar junto ao gelo, trovejando para o sul com uma velocidade igual à queda vertical de uma catarata. É impossível descrever o horror de minhas sensações. Mas a curiosid- ade é mais forte. Esqueço meu desespero e os aspectos horríveis da morte, pensando apenas em desvendar o mistério dessas regiões es- pantosas. Estou à beira de uma descoberta, sei bem. Sei também que o alcance desse segredo significa destruição. É fantástico, mas talvez essa corrente nos conduza ao próprio polo sul. A tripulação não está tão apática. Há uma expressão de esperança e avidez nos olhos de todos. O vento ainda sopra na popa do navio, e a embarcação, por pouco, não se projeta fora d’água. Horror sobre horror! O gelo se abre de súbito e rodamos vertiginosamente em círculos concêntricos. Estou sabendo que pouco tempo me resta para meditar sobre meu destino! Os círcu- los diminuem. Estamos mergulhando. Loucamente mergulhando para as garras do turbilhão... e entre rugidos, clamores e trovões do oceano e da tempestade, o navio está oscilando... oh, meu Deus!... oscilando e afundando! Enterro prematuro O que vejo, o que sou e suponho será apenas um sonho num sonho? E. A. Poe (...) Porque os Céus esperanças não dão a quem só ouve o bater do próprio coração. E. A. Poe O simples romancista devia evitar certos temas que são excessiva- mente hediondos para a ficção legítima. São assuntos que despertam um interesse absorvente em uns, mas a outros pode ofender ou 32/130
- 33. desagradar. Somos tomados, por exemplo, de uma dor intensa (“dor agradável”, podemos dizer) diante de notícias de terremotos, surtos de pragas, massacres, chacinas de prisioneiros, mas se esses relatos são fatos reais e distantes. É a realidade — a história que nos empolga. Como invenções, só podemos encará-las com total aversão. Essas cal- amidades, nas dimensões que citei, impressionam vivamente a nossa fantasia, se acontecem longe e atingem a muitos. A verdadeira infeli- cidade — o supremo infortúnio — é, na verdade, particular. É o sofri- mento bem perto. De um só conhecido. Os extremos medonhos da agonia são sofridos pelo homem isoladamente, e nunca pelo homem na multidão. O terror mais extremo que já se abateu sobre um ser humano é, sem sombra de dúvida, o de ser enterrado vivo. E isso tem ocorrido com muita frequência. As fronteiras entre a vida e a morte são vagas e imprecisas. Ninguém pode dizer, com certeza, onde começa uma e termina a outra. Sabemos que há enfermidades onde cessam todas as funções vitais aparentes. Mas isso não passa de uma suspensão. Há pausas tem- porárias no incompreensível funcionamento dessa máquina: nosso corpo. Depois de certo período, tudo volta a se movimentar, e o mági- co mecanismo recomeça o seu trabalho. Aqui eu lhes poderia narrar muitos e muitos casos de enterrados vivos. Sepultamentos prematuros. Pessoas que são enterradas numa posição, anos depois são encontradas em posição diferente. O leitor mesmo pode ter sido testemunha de algum caso assim. Testemunha direta ou ter ouvido contar. Ou lido nos noticiários cotidianos. E mesmo os médicos estão aí para provar que um grande número desses sepulta- mentos ocorreu realmente. Se interessassem, eu próprio lhes contaria, agora, uns cem deles. Os mais estranhos, incríveis, variados. A nar- rativa, porém, ganharia aquele sabor de que lhes falei no início. E se tornaria cansativa, desinteressante. Talvez eu lhes desse apenas uma notícia, uma informação a mais. O que nada lhes acrescentaria à emoção, à fantasia. Mas eu posso lhes falar do horror que nos entra 33/130
- 34. pelos ouvidos quando se ouve claramente a sentença: “está morto”. E as palavras: “estou vivo” estouram na sua mente sem que possam ser ouvidas pelos outros. Posso lhes falar do horror da suspeita — se está morto ou não. E da condenação, mais terrível que tudo: está morto. Na verdade, nada é tão terrível. A aflição do corpo e da mente. O enterro antes da morte. A insuportável compressão dos pulmões — as ex- alações sufocantes da terra úmida, a aderência e o abraço apertado do caixão estreito, a escuridão da Noite absoluta. O silêncio — como um mar engolindo tudo. A presença invisível, mas contida, do verme de- vorador. Essas coisas, mais a lembrança do ar lá fora e da grama que estão logo ali em cima. Os amigos queridos que correriam para nos salvar se soubessem da nossa situação. E a consciência de que nunca serão informados dela. O desespero que tudo isso leva ao coração faz recuar qualquer imaginação. Não sei de nada tão angustiante sobre a Terra. Ninguém pode imagin- ar nada tão hediondo nos reinos do mais profundo Inferno. E eu posso lhes contar uma coisa assim — com um real e profundo interesse. Porque o que tenho a contar agora é de meu próprio conhecimento. De minha própria experiência real e concreta. Meu caso não difere, em nenhum ponto importante, dos casos citados nos livros médicos. Por muitos anos fui propenso a ataques de um es- tranho mal a que os médicos chamam catalepsia. Talvez por falta de uma denominação mais definida. As causas, os sintomas e mesmo o diagnóstico dessa doença são ainda um tanto misteriosos. Mas seu caráter aparente é bastante conhecido. Aliás, as variações parece que dependem do grau. Às vezes o paciente cai em sono por um dia apenas ou mesmo por um período menor. Fica imóvel. Insensível. A pulsação do coração é quase imperceptível. Permanecem alguns vestígios de calor e coloração nas faces. Com um espelho diante dos lábios, pode-se perceber um lento movimento, vacilante e irregular, dos pulmões. De- pois a duração dessa síncope passa a ser de semana. Depois meses, até que exames médicos minuciosos e testes rigorosos não mais con- seguem estabelecer diferença entre o estado da vítima e aquilo a que 34/130
- 35. chamamos morte absoluta. O infeliz se salva de um enterro prematuro pela suspeita dos amigos que lhe conhecem a situação. E também pela demora da decomposição. Os ataques vão se sucedendo. Cada vez com as características mais acentuadas. E cada um mais demorado do que o outro. De maior, muito maior duração. No meu caso, às vezes, sem causa aparente, mergulhava eu num es- tado de semissíncope. Meio desfalecimento. E assim permanecia: sem dor, incapaz de me mover, de pensar, com uma vaga consciência de vida e da presença daqueles que rodeavam meu leito. Isto até que a crise da doença me restituía a completa sensibilidade. Outras vezes era um ataque rápido, impetuoso. Ficava doente, entor- pecido, gelado, tonto. Caía, então, prostrado. Durante semanas. Tudo era vazio, a escuridão, o silêncio. O nada era o meu universo. A anu- lação total. Daí saía, depois, lentamente, exausto, numa lentidão igual à rapidez do ataque. E lentamente, com a mesma alegria para mim, voltava-me a luz da alma. Apesar dos ataques, contudo, minha saúde parecia boa. Não se notava que fosse, em absoluto, afetada pela minha doença principal. Apenas o meu sono parecia exagerado. E, depois de sair do estado de torpor, não conseguia recuperar, imediatamente, o domínio completo de meus sentidos. Permanecia, por muitos minutos, perplexo, confuso. Meu cérebro, a memória em especial, ficava num estado de completa inatividade. Em tudo isso, meu sofrimento maior não era físico. Era uma infinita angústia moral. Tornava-me mórbido. Minha mente vivia povoada de vermes, túmulos, epitáfios. Eram delírios sobre morte. Enterro prema- turo: o medonho perigo que me rondava, dia e noite. Durante o dia, torturavam-me o pensamento, o medo. À noite, o terror. Era sempre o mesmo pavor: dormir e acordar na escuridão de um túmulo. Meus curtos períodos de sono eram cheios de pesadelos. Via-me submerso no sono cataléptico. Ouvia vozes e sentia mãos geladas sacudindo-me pelos pulsos. Todas as noites os sonhos de agonia. As visões hedion- das. Ilusões apavorantes surgiam à noite e estendiam sua terrível 35/130
- 36. influência muito além, até as minhas horas de vigília. Meus nervos se debilitaram, e fui tomado de um constante pavor. Evitava passear. Montar. Praticar qualquer exercício que me afastasse de casa. Temia afastar-me daqueles que conheciam minha propensão à catalepsia. Desconfiava de meus amigos mais íntimos. Exigia de to- dos os juramentos mais sagrados. E todos me tranquilizavam com as promessas mais solenes. Mesmo assim, meus temores mortais negavam-se a dar ouvidos à razão. Não aceitavam qualquer consolo. Tomei uma série de precauções. Reformei a galeria da família de forma a permitir que fosse facilmente aberta do interior. Uma pequena pressão sobre uma alavanca longa que entrava pela tumba adentro bastava para que as folhas de ferro da porta se abrissem. Colo- quei dispositivos para entrada de ar e luz e recipientes para água e ali- mento. Tudo ao alcance do caixão que me era destinado. Este era ma- ciamente forrado e aquecido. Guarnecido com molas de maneira a deixar-me em liberdade ao menor movimento. Além de tudo isso, havia suspenso do teto do túmulo um enorme sino cuja corda passava por um buraco no caixão, para ser amarrada numa das mãos do cadáver. Agora sim, eu estava preparado, devidamente equipado para o perigo de ser sepultado vivo. Mas, ah, de que vale a vigilância do homem contra o Destino implacável? Como tantas vezes já acontecera antes, um dia, vi-me saindo de uma inconsciência total para uma primeira sensação imprecisa de existên- cia. Como das outras tantas vezes, lentamente, com um torpor de tartaruga, aproximava-se fraca a cinzenta aurora do dia da mente. Eu despertava. Uma entorpecida inquietação. Uma vaga sensação de dor. Nenhuma preocupação. Nem esperança. Nem esforço. Nada. Como se estivesse nascendo. Depois, após um longo intervalo, um tilintar nos ouvidos. Uma sensação de dormência. Um leve formigamento nas extremidades. A sensação agradável de repouso. Os sentimentos despertando. Uma tentativa de pensamento. O primeiro esforço para lembrar-se: o ligeiro estremecimento de uma pálpebra e um choque elétrico de horror 36/130
- 37. indefinido e mortal, que lança o sangue das têmporas para o coração. Outro esforço para lembrar-se. Agora a memória recupera o seu domínio. Tomo conhecimento de minha situação. Sei que não estou acordando de um sono comum. Fora tomado de catalepsia. Final- mente meu espírito é dominado por uma única ideia sinistra, central e mórbida. Perigo! Por alguns minutos a ideia tomou conta de mim. Permaneci imóvel. Não conseguia reunir coragem para mover-me. Não ousava nada, paralisado pelo medo. Medo do destino. Eu sabia. Ele era inevitável. O desespero — apenas o desespero — impeliu-me, após longa hesit- ação, a mover minhas pesadas pálpebras. Abri os olhos. Estava escuro. Tudo muito escuro. Agora eu sabia que o ataque já passara. Sabia que recuperara todas as minhas faculdades. Eu poderia ver. E não enxergava porque estava tudo escuro. Era aquela intensa, negra e completa Noite que dura para sempre. Tentei gritar. Meus lábios e minha língua ressecados moveram-se, mas nenhum som de voz saiu. Os pulmões pareciam oprimidos pelo peso de uma incomensurável montanha. Coração e pulmão arfavam, palpitavam. Latejavam. Ao esforço de gritar, vi que os maxilares estavam amarrados como sempre acontece com os mortos. Senti que repousava em alguma coisa dura. E duros também eram os lados. Elevei os braços acima do meu corpo e senti baterem numa sól- ida tampa de madeira, que subia acima do meu rosto a pouca altura. Não havia mais dúvida. Eu fora encerrado num caixão. Pensei então em minhas precauções. Fiz movimentos e a tampa não cedeu. Procurei a corda do sino que devia estar amarrada aos meus pulsos. Não consegui encontrá-la. Não havia acolchoado. E às minhas narinas chegou repentinamente o cheiro forte da terra úmida. Eu não estava na galeria de minha família. Caíra com o ataque longe de casa, entre estranhos. Não podia me lembrar como nem quando. Mas sabia que me haviam enterrado como a um cão, num caixão, em alguma cova funda, vulgar, sem epitáfio. E para sempre. Quando me convenci disso, tentei gritar de novo. E consegui. O grito 37/130
- 38. saiu longo, prolongado, selvagem. De agonia, de desespero, de terror. Tão forte que ressoou através da Noite subterrânea. — Alô! Alô, aqui! — disse uma voz. — Que diabo será agora? — perguntou uma segunda. — Saia daí! — disse uma terceira. — Que ideia é essa de gritar desse modo? — falou uma outra. E logo fui agarrado e arrancado dali, sem a menor cerimônia. Isto ocorreu perto de Richmond, na Virgínia. Eu acompanhara um amigo numa expedição de caça. Caiu a noite. Fomos surpreendidos por uma tempestade. A cabina de um pequeno barco, ancorado no rio, fora o nosso único abrigo. Passamos a noite a bordo, dormindo num dos dois únicos beliches do barco. Na embarcação pequena os beliches eram boxes apertados, estreitos, sem altura, sem roupa de cama. Lembro-me de que eu achara extremamente difícil espremer-me para entrar ali. Contudo, dormi profundamente. E a visão que tivera — não fora sonho, nem pesadelo — resultara do meu habitual estado de nervos. Claro que, ajudada pelo ambiente, minha neurose se agravara. A demora para recobrar os sentidos e recuperar a memória, o cheiro que vinha da própria terra molhada, o lenço em volta do queixo que eu próprio amarrara pois esquecera minha touca de dormir, tudo concor- reu para aquela situação. As torturas que sofri foram as de um sepultamento real. Terríveis. Odientas. Mas nenhum mal nos reserva Deus que não seja para nosso bem. Pois vejam. Uma reviravolta se operou em meu ser. Meu próprio exagero serviu para curar-me. Minha alma fortaleceu-se. Viajei para o exterior. Fiz exercícios ao ar livre e puro. Respirei. Acabei com todos os pensamen- tos mórbidos. Desfiz-me de meus livros de medicina. Esqueci meus passeios pelos cemitérios. Acabei com os contos de fantasmas — como este. Tornei-me um homem novo. Saudável. Vivo. Um verdadeiro homem. Livre de apreensões de morte, medos, dúvidas, doenças. Até a catalepsia desapareceu de minha vida. Concluo que o mundo de nossa triste Humanidade pode assumir, 38/130
- 39. muitas vezes, a aparência de um Inferno. Tudo depende da mente, da razão, da imaginação do homem. De fato, a legião sinistra de terrores sepulcrais não é totalmente fantasiosa. Existe mesmo. Mas, como os Demônios, temos que deixá-la adormecida. Ou seremos devorados. Têm que ser deixados dormindo. Ou morreremos. Os crimes da rua Morgue Que canção cantavam as sereias, ou que nome adotou Aquiles quando se escondeu entre as mulheres são perguntas que, embora de difícil re- sposta, não estão além de toda suposição. Sir Thomas Browne Todos nós sabemos que os indivíduos dotados de boas qualidades mentais são dotados também de um espírito fascinado pela análise. Assim como o homem fisicamente forte se delicia com exercícios que põem seus músculos em ação, o homem bem-dotado de inteligência gosta da atividade mental. Esta lhe traz um prazer imenso. Analisa, soluciona problemas, resolve enigmas. Decifra mistérios. Sabe encon- trar prazer nas ocupações mais comuns, desde que ponham em jogo o seu talento. Gosta, como se diz, de dar “tratos à bola”. Ninguém vá pensar que estou aqui escrevendo um tratado ou elabor- ando um ensaio. Nada disso. Estou apenas prefaciando uma narrativa um tanto fora do comum. Lembrei-me de dizer-lhes aquelas coisas porque o tal caso era um caso de mistério. Sua solução parecia exigir o que já lhes disse: inteligência, cálculo, espírito de análise. E sobretudo atenção. Sim, porque em to- dos os jogos intrincados e difíceis são requeridas vivacidade, perspicá- cia, mas também muita atenção. No caso do xadrez, por exemplo, nem sempre vence o mais perspicaz. E sim o mais concentrado, mais at- ento. Observar atentamente é recordar com clareza. Dessa forma, ter memória retentiva e conhecer as regras (o mecanismo do jogo) são 39/130
- 40. requisitos considerados comumente indispensáveis a uma partida sat- isfatória. Mas é nas questões que ultrapassam os limites da simples re- gra que se comprova a perícia do bom jogador. É essencial saber o que se deve observar. O jogador de verdade não se limita ao jogo. Examina bem a fisionomia do parceiro. Compara-a cuidadosamente com a de cada um dos ad- versários. Considera a maneira como são repartidas as cartas. Conta trunfo por trunfo, figura por figura, vigiando o olhar dos demais. Nota todas as modificações fisionômicas no decorrer da partida. Expressão por expressão vai ficando guardada na memória. É a alegria, a sur- presa, o triunfo, o pesar. Reconhece o blefe pelo jeito com que a carta é lançada na mesa. Uma palavra casual, a contagem, a arrumação, o em- baraço, a dúvida. O tremor das mãos, a impaciência, uma carta que cai, tudo lhe oferece à percepção indicação do verdadeiro estado das coisas. Eu lhes expus tudo isso para que possam entender melhor a narrativa que se vai seguir. No ano de mil oitocentos e tanto, durante a primavera, eu estava residindo em Paris. Sozinho e em situação financeira não muito boa. Foi nessa época, justamente, que conheci e fiquei amigo de um tal sen- hor C. Auguste Dupin. Era um jovem e simpático cavalheiro. De excelente — ilustre mesmo — família. Por uma série de maus acontecimentos, ficara, como eu, reduzido à miséria. Uma miséria que nos matara a energia do caráter e não nos deixara nem ânimo para cuidar da recuperação dos bens. Muito pouca coisa do antigo patrimônio ficara em seu poder. Mera gentileza ou piedade dos credores. A pequenina renda que lhe restara daí ia dando para prover as necessidades, sem nada de supérfluo. Seu único luxo era, em verdade, os livros, que em Paris não custam muito caro. Pois foi justamente numa livraria que teve lugar nosso primeiro en- contro. Por uma coincidência, procurávamos o mesmo volume. Raro e 40/130
- 41. notável. Isso nos aproximou. Passamos a ver-nos com frequência. Contou-me sua vida, a história de sua família. Eu estava assombrado com a extensão de suas leituras. Encantou-me também o poder de sua imaginação. Vi que a companhia daquele homem, naquela cidade, ser- ia preciosa para a experiência. Ele era um tesouro para a minha inexperiência. Revelei-lhe francamente esse meu sentimento. Combinamos, então, morar juntos, enquanto eu estivesse por ali, em Paris. Alugamos uma casa no subúrbio de St. Germain. Mobiliamos a casa, deserta e afastada, de acordo com nosso temperamento comum. A velha mansão, já devastada pela ação do tempo, uma ruína quase, gan- hou uma feição grotesca com a decoração que fizemos. Estava desabit- ada há muito, devido às superstições que não nos demos o trabalho de investigar. Nosso isolamento era total. Quem chegasse a conhecer a vida que levávamos ali teria, sem dúvida, nos considerado loucos. Nem visita nós admitíamos. E ninguém conhecia a localização de nosso retiro. Nem os amigos mais íntimos. Existíamos apenas dentro de nós mes- mos. Meu amigo era cheio de caprichos e fantasias. E eu me divertia com isso. Na verdade, adotei todas as suas esquisitices. Entreguei-me a um mundo de manias. Por exemplo: quando amanhecia, fechávamos a casa toda. Dentro do casarão escuro acendíamos velas perfumadas que davam em tudo um reflexo bem estranho. Nesse ambiente, estimulados pela semiescuridade, passávamos o dia lendo, escrevendo, conversando até que o relógio nos avisasse a chegada da verdadeira Treva. Assim, dentro da noite, saíamos, então, de braços dados. Rua afora, mergulhados nos mesmos sonhos de dur- ante o dia. Errávamos, sem destino, até altas horas, procurando, por entre as desertas escuridões da cidade populosa, aquele infinito de emoção espiritual que só a silenciosa contemplação pode proporcion- ar. 41/130
- 42. Foi nessas andanças que comecei a notar em Dupin uma poderosa ca- pacidade de análise. Ele se divertia, exercitando-se cada vez mais. Chegava a dizer que, para seus olhos, a maioria dos homens trazia, no peito, janelas abertas, através das quais podia ver-lhes o íntimo. E provava isso. Fazia espantosas revelações a respeito de mim mesmo. É. Ele parecia ver-me por dentro. Pelo jeito como estou contando tudo isso, pode parecer que lhes estou preparando uma história de mistério sobre mim mesmo. Ou algum ro- mance. Não. O meu amigo francês era uma inteligência agitada. Analista. Para lhes dar ideia da natureza de suas observações, vou lhes contar um ex- emplo. Certa noite, vagávamos os dois pela rua longa e suja. Íamos em silên- cio, cada um com o seu próprio pensamento. Já havia bem uns 15 minutos que não dizíamos uma única palavra. De repente, Dupin rompeu o silêncio, como se continuasse uma conversa: — Ele é, de fato, muito pequeno. É um sujeito pequenino demais, e es- taria muito melhor no teatro de variedades. — Não resta a menor dúvida — respondi, continuando uma conversa que não havíamos começado. Para ser mais exato, fora apanhada no meio. Sim, porque eu estava assombrado com o fato de suas palavras combinarem com o meu pensamento. — Dupin — disse-lhe eu, preocupado —, isto está além da minha com- preensão. Mal posso crer no que estou assistindo. Como lhe foi pos- sível saber que eu estava pensando em...? — Interrompi, de propósito, aqui, para me certificar, definitivamente, de que ele de fato sabia em quem pensava eu. — ... em Chantilly, o sapateiro — disse ele. — Por que parou? Você es- tava pensando que a pequena estatura dele o tornava incapaz para representar o papel na tragédia. Exato. Fora isso mesmo. Chantilly era um antigo sapateiro, meu conhecido, fanático pelo teatro. Representara um papel numa tragédia e fora vaiado 42/130
- 43. violentamente. — Diga-me, pelo amor de Deus — exclamei —, qual o método, se é que existe algum método, pelo qual você conseguiu penetrar em minha alma, neste caso. Na verdade, eu estava mais espantado do que desejava estar. — Foi o vendedor de frutas — respondeu o meu amigo. — Foi ele que fez com que eu chegasse à conclusão de que o sapateiro não tinha es- tatura suficiente para representar o papel de Xerxes... — Mas não conheço nenhum vendedor de frutas! — O homem em quem você esbarrou ao entrar nesta rua, há uns 15 minutos, mais ou menos. Lembrei-me. Era verdade. Um vendedor carregando, à cabeça, um enorme cesto de maçãs quase me atira ao chão, esbarrando em mim. Agora, o que eu não podia entender era o que isso tinha a ver com Chantilly. A meu pedido, Dupin explicou-me tudo. Seguiu comigo todo o trajeto de meu pensamento até aquele momento. E tudo certíssimo, eu con- feria. Passo por passo, reconstituiu meu pensamento, que ele lia at- ravés de minhas posturas e das expressões do meu rosto. Um pouco depois dessa conversa, folheávamos uma edição da Gazeta dos Tribunais. Nossa atenção foi despertada pela seguinte notícia: Crimes Extraordinários Em diversos parágrafos, a notícia narrava a história do que parecia ser um crime bárbaro. Contava que, dentro da madrugada, às três horas, mais ou menos, os moradores haviam sido despertados por gritos es- pantosos. Pareciam vir do quarto andar de uma casa da rua Morgue. A casa era ocupada por uma senhora e sua filha, Madame L’Espanaye e Camille. Correram todos para lá, uns dez vizinhos e dois policiais. Não foi fácil abrir a porta. Só o conseguiram arrombando-a com uma 43/130
- 44. alavanca, mais propriamente um pé de cabra. A essa altura não havia mais grito. Enquanto subia a escada, o grupo ouvia vozes ásperas, em tom de violenta discussão. O grupo dividiu-se. Isto facilitaria o exame dos aposentos em menos tempo. Nos fundos havia um quarto fechado a chave, por dentro. Foi arrombado também. Aí um espetáculo de hor- ror paralisou todos os presentes. Reinava a maior confusão. Móveis quebrados, jogados, em desordem, por todos os cantos. Sobre uma cadeira havia uma navalha manchada de sangue. Na lareira, duas longas e grossas tranças de cabelo hu- mano, grisalho. Tudo empapado de sangue. Gavetas abertas, objetos de prata, em grande quantidade, jogados, espalhados pelo chão. Duas bolsas abandonadas com cerca de quatro mil francos de ouro. Um cofre de ferro, papéis velhos, cartas, joias, tudo misturado, largado de qualquer maneira. E das pessoas da casa, nenhum vestígio. Notaram, então, uma quan- tidade enorme de fuligem na estufa. Deram uma busca na chaminé. Dali foi retirado o cadáver da filha, de cabeça para baixo. Fora in- troduzido à força. O corpo, ainda quente, estava todo arranhado, cheio de hematomas e fundas marcas de unha. Parecia ter sido mortalmente estrangulada. Continuaram a investigação por toda a casa. Num pequeno pátio, espécie de um quintal cimentado, estava o cadáver da velha. A garganta profundamente cortada. Tanto que, ao tentarem le- vantar o corpo, a cabeça se desprendeu. Tudo estava horrivelmente mutilado, mal conservando qualquer aparência humana. A nota dizia que, até aquela hora, não havia nenhum indício que es- clarecesse alguma coisa sobre o horrendo crime. Era o mais denso mistério envolvendo tudo. No dia seguinte, procuramos saber mais a respeito. E, de fato, haviam publicado alguns novos pormenores, sob o título: 44/130
- 45. A Tragédia da Rua Morgue A notícia vinha contando que muitas pessoas foram interrogadas. Aquelas que pareciam mais ligadas às duas assassinadas. Vou resumir os depoimentos de cada uma. Será muito longo e cansat- ivo contar tudo como foi lançado nos autos. Mesmo porque, apesar de as declarações haverem sido longas, não trouxeram nada novo que lançasse alguma luz sobre o caso. Foram interrogados, por exemplo: Pauline Duborg, a lavadeira das vítimas. Trabalhava para elas há três anos. Disse que mãe e filha viviam bem. Em paz. De maneira afetuosa, no trato uma com a outra. Não sabia dos seus meios de vida. Achava que a velha senhora era cartomante. Diziam todos que guardava din- heiro. Nunca encontrara pessoa estranha na casa. Só as duas, sempre. Não tinham empregada. Só havia móveis no quarto andar, estava certa disso. Pierre Moreau, vendedor de fumo. Vendia há quatro anos a Madame L’Espanaye. Nascera e crescera por ali. Disse que as duas ocupavam a casa há seis anos. Achava que a velha era um tanto caduca. Deviam ter dinheiro. Achava também que Madame lia a sorte. E achava muita coisa mais que nada adiantava para elucidar o crime. Outras pessoas todas vizinhas prestaram depoimentos. Quase todos iguais. E pouco interessavam ao esclarecimento do mistério. Um acrescentava uma coisa. Outro supunha algo mais e alguém trazia uma informação pre- cisa. Mas nada de muito valor para a solução. Isidore Muset, policial, tinha mais a dizer. Fazia ronda por ali. Fora chamado. Ajudara a arrombar a porta e fora dos primeiros a penetrar na casa. Ouviu os gritos e, o que é mais valioso: ouviu as vozes em dis- cussão. Nesse ponto, todos os que entraram estavam de acordo em certos de- talhes. Por exemplo, foram ouvidas as palavras: “sagrado” e “diabo”. Quanto ao timbre da voz, as opiniões variavam. Isidore Muset, o policial, disse ser voz de espanhol. Para ele, discutiam 45/130
- 46. em espanhol. Já Henrique Duval concorda com os outros depoimentos em tudo, menos no sotaque da voz. Era pronúncia de italiano, dizia ele. Con- hecia as vítimas e sabia que as vozes não eram delas. E Odenheimer, dono de restaurante. Holandês. Passava pela casa na hora dos gritos. Depusera espontaneamente. Confirma os depoimen- tos, mas a voz era de homem e francês. E o banqueiro Julio Mignaud, a mesma coisa. Declarou que Madame fazia depósitos e retirara uma boa soma em ouro três dias antes da tragédia. E Adolfo Le Bon, empregado do banqueiro, levou a quantia, em duas bolsas, até a casa da velha. Não viu ninguém no caminho. E outros, mais outros! Uma meia dúzia mais de depoimentos. Sempre coincidindo tudo, acrescentando pouco, mas discordando sempre no caso da voz. Para o espanhol Afonso García, agente funerário, era um inglês falando e um francês. Alberto Montani dizia, entre muitas out- ras coisas, que era a voz grossa de um francês. E a voz mais aguda era de um russo. O médico Paulo Dumas foi chamado para ver os cadáveres. Descreveu tudo com técnica e precisão, inclusive o estado dos corpos. As arran- haduras. A moça bem mais ferida que a mãe. Manchas. Pressão de de- dos. Rosto exangue. Olhos saltados. Língua quase totalmente cortada. Equimose em cima do estômago feita por pressão de joelho. O médico achava que a jovem fora estrangulada por várias pessoas desconheci- das. As pernas da mãe estavam esmagadas. Os ossos das costelas, las- cados. Lesões por toda parte. Se fora um homem, dizia ele, tinha que ser um homem terrivelmente forte. O pescoço da velha fora cortado com uma navalha. E vem o depoimento de outro médico, o cirurgião: Alexandre Etienne. Mesma opinião em tudo. A notícia é encerrada com a afirmação de que nada mais importante fora conseguido. Não existe, pois, ao que parece, a menor pista. Em sua edição da tarde o mesmo jornal falava da grande confusão que 46/130
- 47. reinava em torno do caso. Muitas testemunhas ouvidas, muitos dados, muita informação exam- inada e reexaminada. Tudo não levando a nada de positivo. Uma nota de última hora informava que havia sido preso Adolfo Le Bon. O que levara os francos de ouro à casa da velha. Enquanto tudo isso acontecia, meu amigo Dupin mostrava-se particu- larmente interessado no andamento do caso. Sem comentários, mas deixando ver a satisfação que o enigma lhe trazia. Depois da notícia da prisão do empregado do banco, resolveu pedir minha opinião a respeito do crime. Minha opinião era a mesma da cidade inteira. O mistério era insolúvel. Tive que confessar. Dupin, então, comentou: — Será difícil descobrir qualquer coisa com esses interrogatórios tão superficiais. A polícia trabalha sem método, sem lógica. Ou é superfi- cial ou profunda demais. Olhar de muito perto o objeto prejudica a visão. E a verdade nem sempre se encontra no fundo do poço. Com uma profundidade indevida, perturbamos e debilitamos os nossos pensamentos. — E você tem alguma opinião formada sobre esse crime? — perguntei. — Bem, acho que devemos fazer alguns exames por conta própria, antes de formar uma opinião a respeito. Será uma boa distração. Além disso, devo um favor a Le Bon e não gosto de vê-lo preso, creio que sem culpa. Assim, arranjamos permissão e visitamos o local da tragédia. Lá — uma casa parisiense comum —, meu amigo fez um exame minu- cioso de tudo. Os corpos ainda se encontravam no mesmo lugar e foi possível investigar com maior eficiência. Um policial nos acompanhava na visita. Nesse trabalho ficamos ocu- pados até o anoitecer. Voltamos, então, para um merecido descanso em nossa casa. Antes, meu companheiro entrou por um momento na redação de um dos diários. Chegou calado e saiu calado. Meu companheiro era cheio de manias. 47/130
- 48. Eu as respeitava. Deixei-o ficar em silêncio, até quando se resolveu manifestar. E veio com uma pergunta: — Que observou você de particular, lá, no local da tragédia? — Nada de particular — respondi. — Pelo menos, nada que já não houvesse lido nos jornais. Não sei por quê, mas a maneira como pronunciou a palavra “particular” me fez estremecer. E meu amigo comentou: — Receio que os jornais não tenham penetrado no extraordinário hor- ror da coisa. Mas vamos nós ao exame e à opinião nossa a respeito desse caso misterioso que todos já consideram insolúvel. Vamos para o lado em que a polícia não foi. — Como assim? Então todos os ângulos já não foram vistos através de vários depoimentos? — Você ainda não notou que a polícia está confusa justamente por causa de tantos depoimentos? Até agora não conseguiu achar o “motivo”. — Motivo para o crime? — Não, meu caro. Para tanta atrocidade por parte do assassino. — Você fala “o assassino”. Não lhe parece tudo muito para ser trabalho de um? — Justamente isso também confunde a polícia. Há aquela dificuldade de conciliar as vozes ouvidas na discussão com o fato de não se ter en- contrado ninguém lá em cima, além da senhorita L’Espanaye assassin- ada. Acontece que a casa não tem outra saída além daquela por onde o grupo entrou ao ouvir os gritos. — Mas, repito, não houve ação demais para ser executada por uma só pessoa? — É o que parece. Daí a confusão da polícia. Veja bem se não é para embaraçar qualquer um. A selvagem desordem do quarto. O cadáver metido, de cabeça para baixo, na chaminé. As mutilações no corpo da senhora idosa. Essas e mais outras coisas foram suficientes para desorientar o raciocínio dos agentes do governo, reduzindo a zero aquela vivacidade e esperteza de que tanto se orgulham. Caíram no 48/130
- 49. erro de confundir o incomum, o inusitado com o desconhecido. Mas é por esses desvios do plano comum que se chega à verdade. — Começo a entender. — Pois é, nas investigações como a que iniciamos não se deve pergun- tar muito. Mas, sim, procurar saber se o que aconteceu jamais aconte- ceu antes. De fato, a facilidade com que chegarei, ou já cheguei, à solução desse mistério está na razão direta de sua aparente insolubil- idade aos olhos da polícia. Olhei para ele, mudo de assombro. — Estou à espera — continuou ele, olhando para a porta do nosso aposento —, estou à espera de uma pessoa que deve me procurar. Pode ser que não seja o autor dessa carnificina, mas é certo que esteja in- timamente ligada a ela. É bem provável que esteja inocente da parte mais grave dos crimes cometidos. Suponho que minha ideia esteja certa. Pelo menos, se baseia nela toda a minha esperança de decifrar o enigma. — E quem supõe que seja? — Aguardo o homem aqui, nesta sala, a qualquer momento. — E se não aparecer? — É verdade que ele pode não vir. Mas é quase certo que venha. Se vi- er, será necessário detê-lo. Aqui estão duas pistolas. Nós as saberemos usar quando chegar a hora. Apanhei uma das armas, mal acreditando no que ouvia. É que Dupin continuava falando como num monólogo. E falava alto como se eu me encontrasse muito distante dali: — As vozes que discutiam eram de homens. As pessoas ouviram, en- quanto subiam a escada. Então não se pode dizer que a velha matou a filha e se suicidou. Isso é simplesmente absurdo. Nem a velha senhora teria tido força para colocar o corpo da moça na chaminé. E a natureza dos ferimentos em seu próprio corpo exclui a ideia de suicídio. O crime foi, portanto, cometido por terceiros. E eram destes as vozes que se ouviram na discussão. Agora, deixe-me mostrar-lhe uma coisa de peculiar que existe nos depoimentos. Não notou neles nada de 49/130
- 50. particular? — Parece que todos são de acordo em que a voz grave pertence a um francês. E quanto à voz mais estridente há um completo desencontro. Ninguém chega a nada. — Isso é pura evidência. Mas não é particularidade. Como você disse, todos concordam quanto à voz grave. Mas, no que se refere à voz aguda, a peculiaridade está, não em terem discordado, mas no fato de que ao tentarem descrevê-la um italiano, um inglês, um espanhol, um holandês e um francês, todos se referem a ela como sendo de um es- trangeiro. Notou isso? — Sim, é verdade. O francês julga tratar-se de um espanhol. O holan- dês afirma que é de um francês... — O inglês acha que é de um alemão, o espanhol jura que é de inglês. Já o italiano acredita que seja de um russo, apesar de nunca ter con- versado com um russo. Vem um segundo francês e discorda do primeiro, dizendo que a voz era de um italiano. Já viu, meu caro, que muito estranha para todos devia ser essa voz. Não houve palavras, nem sons que se assemelhassem a palavras... Isto leva a uma con- clusão quase exata. Sem margem de erro. — É mesmo. Pelo menos, cidadãos de cinco grandes divisões da Europa não conseguiram ouvir nada de familiar. — Não sei como você entende isso. Eu, porém, já tirei minhas con- clusões. São deduções legítimas. Agora tudo já está, de certa maneira, claro, definido. Está visto que não há nada de sobrenatural nesse caso. Os autores eram entes materiais e como tal escaparam. — Como, então? — Vejamos os meios de fuga. É claro que o criminoso estava no quarto onde a senhorita foi encontrada. Ou, pelo menos, no quarto ao lado. É daí que temos de procurar as saídas. — Mas a polícia procurou, palmo a palmo, tudo. Assoalho, forro, paredes... Nenhuma saída secreta foi encontrada. — Não confiemos nos olhos da polícia. Eu confio nos meus. É certo que não havia saídas secretas. As portas estavam fechadas por dentro. 50/130
- 51. Mas, e as chaminés? — Mas não cabe nem o corpo de um gato grande! Você viu como ficou o corpo da pobre moça... — Estou apenas citando, meu amigo, para fazermos as eliminações. Você me ajuda. Pelas chaminés, impossível. Então, resta-nos as janelas. Há duas delas no quarto. Uma está obstruída por móveis. A outra está com a parte inferior coberta pela cabeceira da cama. Nessa aí há uma mola oculta. É sair por ela e, por si mesma, volta à posição anterior: fechada. Isto enganou a polícia. — Mas como conseguiu o assassino descer da janela? — Bem, você viu que eu dei a volta em torno da casa. E esse passeio valeu. Descobri que, por fora, um pouco afastado da janela, mas na mesma direção, há um cano. De um para-raios, creio eu. O postigo da janela de que falo, perto da cama, quando aberto, aproxima-se do cano. Portanto, bastava um pulo para chegar até o cano e descer por ele. Também, usando do mesmo processo, uma pessoa poderia subir e com agilidade puxar a janela, entrando facilmente no quarto. Claro que aí precisaria de um impulso bastante ousado. E muito menos se imaginarmos que a janela já se encontrava aberta... Pense bem... — Sim, estou vendo com clareza. Mas imagino que seria necessária uma agilidade extraordinária para realizar essa façanha. — Não nego isso. Não só agilidade, mas energia mesmo. Meu objetivo é a verdade. Quero levá-lo a ligar essa agilidade e energia pouco comuns às vozes. Uma comum, em que todos reconheceram o sotaque francês. Outra inteiramente fora do comum. Ninguém conseguiu “pes- car” nem uma sílaba. Depois dessas palavras, comecei a ver claramente o que Dupin queria dizer. Eu estava à beira da compreensão do mistério todo. E Dupin continuou: — Vamos ao interior do quarto. As peças dos móveis estavam fora do lugar. Mas nada fora roubado. Roupas, joias, dinheiro. O ouro estava intacto. Os saquinhos estavam sobre o assoalho. Tire da cabeça a ideia de motivo. A entrega do dinheiro e o assassinato, logo depois, são só 51/130
- 52. coincidências. Acontece muito disso. Sempre. E essas coincidências at- rapalham o andamento das investigações. Se o ouro houvesse desa- parecido, teríamos talvez uma coincidência. Mas já haveria um motivo. E não há. E a carnificina. Assassinos comuns não matam dessa maneira. O modo violento como foi praticado tudo foi excessiva- mente exagerado. Algo em desacordo com as ações humanas. Mesmo quando se tratam de criaturas depravadas. E os cabelos arrancados com raiz e até pedaços de couro cabeludo. Que força prodigiosa é ne- cessária para se fazer isso! Tudo foi executado com ferocidade brutal. Agora, raciocine: a desordem no quarto, a força sobre-humana, de fe- rocidade brutal, a carnificina sem motivo, a voz de acento descon- hecido... Que se deduz de tudo isso? — Esse crime foi cometido por um louco. Algum lunático furioso... — Sua ideia não é de todo descabida. Embora a fala dos loucos seja mais ou menos comum. Mas pode um louco ter um cabelo desses? Diga-me. — Dupin! — exclamei. — Mas isso não é cabelo humano! — Não disse que era, meu amigo. E olhe aqui. São marcas de dedos. Experimente colocar seus dedos nessa marca. Estas são as marcas que ficaram na carne da senhorita L’Espanaye... Experimentei inutilmente. — Esta não é marca de mão humana. Em seguida, meu amigo me deu para ler um estudo, uma descrição anatômica do grande orangotango das ilhas das Índias Orientais. A força, a agilidade, a estatura, a ferocidade e a faculdade de imitação desses mamíferos! Compreendi, de repente, todo o horror daqueles crimes! Foram cometidos por um orangotango. Meu amigo acres- centou, por fim: — Há um francês que está perfeitamente a par desses crimes. Lembra- se das expressões: “Mon Dieu”, “Sacré”, “Diable”? Talvez o animal est- ivesse sob sua guarda e haja fugido. Deve ter seguido o rastro até o quarto e nada pôde fazer para recapturar o animal. Talvez o francês esteja inocente. Se estiver inocente, como suponho, virá até aqui. 52/130
- 53. — Por que diz isso? — Ontem à noite, deixei na redação do Le Monde (jornal muito lido por marinheiros) o seguinte anúncio. — Mostrou-me um jornal, onde li: Capturado No Bois de Bologne, nas primeiras horas da manhã do dia... do cor- rente (a manhã do crime) um enorme orangotango fulvo, da espécie de Bornéu. O seu dono (que se sabe ser um marinheiro da tripulação de um navio maltês) poderá recuperar o animal, após identificá-lo devid- amente e pagar alguns pequenos gastos causados pela sua captura e manutenção. Dirigir-se ao no... rua... Bairro St. Germain, terceiro andar. — Como sabe que o homem é marujo e da tripulação de um navio maltês? — Eu não sei. Não estou certo disso. Mas tenho aqui um lacinho de fita que os marujos usam para amarrar um rabicho de cabelo. Este nó só os marinheiros sabem fazer. Principalmente os malteses. Estava junto do cano do para-raios. Se estiver errado, não farei mal a ninguém com o anúncio. Mas se eu estiver certo, terei dado um grande passo. Nesse momento, ouvimos passos na escada. — Fique preparado — disse Dupin. — Apanhe as pistolas e espere meu sinal. A porta estava aberta. O visitante entrou sem bater. Era um marinheiro, realmente. Alto, forte, musculoso. Arrogante, mas simpático. Queimado pelo sol. Um grosso cacete na mão. Parecia sua única arma. — Boa tarde — disse. — Sente-se, amigo — disse Dupin. — Veio reclamar seu orangotango. É um belíssimo animal. Que idade julga que tem? — Não sei dizer. Quatro ou cinco anos. Está aqui? — Oh, não! Não temos condições para isso! Está perto. Poderá 53/130
- 54. apanhá-lo amanhã cedo. Está preparado para provar que é seu? — Sem dúvida, senhor. — Sentirei falta dele. — Estou disposto a recompensá-lo. — Bem, é justo. Mas para mim basta que me diga tudo o que sabe sobre os crimes da rua Morgue. Nesse momento, Dupin fechou a porta e colocou a chave no bolso. De- positou a pistola em cima da mesa. E eu tomei posição. O marinheiro ficou vermelho. Levantou-se de um salto. Apanhou o cacete. Logo depois, empalideceu, e caiu sobre a cadeira, mudo. Tive pena dele. — Meu amigo — disse Dupin —, não se alarme. Não lhe farei mal algum. Dou-lhe minha palavra. Sei que é inocente das atrocidades cometidas na rua Morgue. Mas, reconheça, está muito envolvido no caso. A questão é essa: o senhor não fez nada que tivesse podido evitar. Nada que o torne culpado. Não é culpado de roubo, quando po- deria ter furtado impunemente. Portanto, nada tem a ocultar. Um ino- cente está preso. Acusado de um crime cujo autor só o senhor pode in- dicar. O marinheiro mostrou-se aliviado. E humilde. — Vou contar-lhes tudo. Mas não sou tolo de esperar que acreditem. Sou inocente, no entanto. O que disse, já lhes contei. Tudo o que Dupin dissera. Trouxera o oran- gotango de uma viagem. Ficara com ele. Alojado em sua própria casa em Paris. Cuidadosamente preso. No dia do crime havia fugido de madrugada. Todo lambuzado de espuma, com uma navalha na mão. Tentou acalmá-lo. Mostrou-se feroz. Saiu do quarto e, pela janela aberta, fugiu para a rua. O francês seguiu-o. Percorreu parte da rua Morgue. Fora atraído pela janela aberta e luz acesa do quarto andar da casa de Madame L’Espanaye. Tudo durou muito pouco tempo. Subiu ainda pelo cano do para-raios. Mas não pôde fazer nada. Despencou lá de cima, ouvindo os gritos das 54/130
- 55. duas mulheres. E a correria pela rua. Parece que as duas estavam ocu- padas em arrumar uma arca de ferro, de costas para a janela. Tudo foi muito rápido. Viu ainda quando a fera introduziu o corpo da moça na chaminé e atirou a velha pela janela. Fugiu correndo para casa. Apavorado. Pouco mais teve a dizer. Acha que o animal também desceu pelo cano do para-raios, pouco antes de arrombarem a porta de entrada. Deve ter fechado a janela depois de passar por ela. O orangotango foi capturado. Pelo próprio dono, que o vendeu ao Jardim, obtendo uma ótima quantia. Le Bon foi posto em liberdade, depois que narramos nossa história à polícia. Claro que a polícia não gostou da maneira como o caso se solucionou. A polícia gosta de re- solver, e não resolveu coisa alguma. Gosta de prender, e ninguém ficou preso. Quanto a Dupin, estava satisfeito. Achou muito bom ter derrotado o chefe de Polícia em seu próprio terreno. Também, achava ele que o chefe era astuto demais para ser profundo. Mas que era boa pessoa não restava dúvida. Dupin o apreciava. Principalmente porque era um mestre no seu assunto. Estava até ficando famoso pela sua mania, sá- bia mania de “negar o que é e explicar o que não é”. Em seguida... bem, este foi outro crime. Outro mistério na já famosa rua Morgue. Outro desafio para o meu amigo Dupin, agora familiar entre os policiais. Mas isso já é outra história que lhes contarei um dia. A queda da Casa de Usher Seu coração é um alaúde suspenso; tão logo tocado, ressoa. De Béranger E hoje quando passa o viajor. Pelas janelas candentes, vê negras formas de horror bailando acordes dementes. E. A. Poe 55/130
- 56. Agora eu estava num beco sem saída. Estava ali, a cavalo, atravess- ando, sozinho, uma região isolada e triste. Trouxera comigo a dis- posição de passar uma temporada com Roderick Usher, que tinha sido um dos meus alegres companheiros de infância. Mas já fazia muito tempo que não nos víamos. Para ser franco, nem me lembrava muito dele. Por isso mesmo, espantava-me a pressa com que eu atendera seu pedido para que o visitasse. Sua carta inteira era um apelo. A própria letra já evidenciava uma grande agitação nervosa. E assim todo o con- teúdo da carta. Pedia-me Usher que viesse fazer-lhe um pouco de companhia. Falava de uma enfermidade física e de uma perturbação mental. Esperava que pudesse aliviar um pouco os seus males com a minha jovialidade. Estava muito só. Precisava de mim. E, nesse tom, tudo isso e muito mais fora dito. Nem pensei duas vezes. Embarquei logo. E, agora, eis- me num beco sem saída. Tudo ali naquele lugar me dava arrepios. E, durante um dia inteiro, passei eu a cavalo à procura da casa de Usher. Nesta hora entardecia. Não sei como foi. Sei que, de repente, me vi tomado de terrível angús- tia. Uma tristeza muito grande me encheu a alma. E tudo piorou quando vi a casa. À minha frente, o prédio nu, de construção muito simples, abria suas janelas como olhos vazios. Os muros frios, os tron- cos brancos apodrecidos, as fileiras de juncos, tudo tornava a pais- agem depressiva e gelada. Uma frialdade de gelo, um abatimento, um aperto também dentro de mim. Era como se a atmosfera de fora me tivesse penetrado até os ossos. Eu não sabia o que fazer para me livrar daquele mal-estar. Que teria causado isso? Era um mistério que parecia insolúvel. Nem conseguia lutar contra as sombrias visões que se amontoavam sobre mim enquanto pensava na- quilo. Refleti bem. Cheguei à conclusão de que, embora haja uma com- binação de simples objetos, com o poder de nos afetar assim, a análise desse poder basta para modificar ou talvez destruir sua capacidade de influenciar. 56/130
- 57. Enquanto pensava assim, conduzi meu cavalo para a borda escarpada de um lago escuro e de aparência suja, que derramava seu brilho negro à volta da casa. Com um estremecimento, olhei para baixo e vi, mais vivas do que as reais, as imagens refletidas, transformadas e invertidas dos juncos cinzentos, dos troncos lívidos e fantasmagóricos das árvores podres e das janelas que se assemelhavam a órbitas vazias. E eu que me dispusera a passar semanas naquele lugar! Mas, já expliquei: o tom inteiro da carta do meu companheiro de in- fância não me deixou pensar muito. O fato é que ali estava eu. E nem me lembrava bem de Roderick. Sei que vinha de uma família muito antiga. E, antes, numerosa. Que eram todos de temperamento muito sensível, voltados para a arte. Era a música, a poesia, a literatura. Dedicavam-se discretamente às obras de caridade. Eram conhecidos e respeitados. Tanto que a denominação “Casa de Usher” parecia incluir, no espírito de todos que a empregavam, tanto a família quanto a mansão. Eu disse numerosa, mas, por mais antigo e glorioso que fosse, não houve nenhum ramo duradouro. Perpetuara-se sempre em linha reta, razão por que, creio, poucos elementos restavam para representar a Casa de Usher. Já disse que o único efeito de minha experiência — a contemplação do lago sombrio — fora o de aumentar a angústia que já me oprimia. Sem dúvida, acentuando a superstição (não passava disso) que trabalhava no meu espírito. Superstição ou ridícula fantasia, como queiram. Sei que minha imaginação trabalhara tanto que parecia haver realmente, em torno da mansão e no domínio inteiro, uma atmosfera própria que emanava das árvores apodrecidas, das paredes cinzentas e do lago si- lencioso — em tudo um vapor pestilento, pesado, misterioso. Tratei de sacudir do espírito isto que parecia um pesadelo. Examinei atentamente o aspecto real do edifício. Era, de fato, muito antigo. E o tempo desbotara tudo. Muitas plantas pequenas cresciam no telhado, descendo pelos beirais. Isso, porém, não significava estrago na construção. Pelo contrário, esta se 57/130
