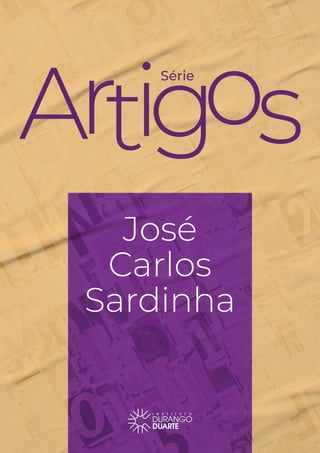
Uma breve introdução à infância de José Carlos Sardinha
- 2. Série José Carlos Sardinha 2 Série APRESENTAÇÃO O site do Instituto Durango Duarte foi totalmente reformulado e, por isso, to- dos os textos já publicados por José Carlos Sardinha em nossa plataforma foram reunidos numa coletânea, em formato de e-book, para que você possa acessar e ler os artigos em um único lugar, além de poder fazer o download gratuito do material. Na “Série Artigos”, você também poderá encontrar as compilações de outros articulistas, tais como Lúcio Menezes, José Carlos Sardinha, Cláudio Barboza, Oto- ni Mesquita, Hélio Dantas, Jeferson Garrafa Brasil, Amaury Veiga, Roberto Cami- nha Filho, Henrique Pecinatto, Jorge Alvaro, Júlio Silva e Kátia Couto. Essas coletâneas serão atualizadas semestralmente com os novos artigos que forem produzidos. José Carlos Sardinha
- 3. Série José Carlos Sardinha 3 Série José Carlos Sardinha Nascido caipira-pirapora, virou amazonense em meados dos anos 70. Por acaso militou no movimento estudantil, ajudou a criar um partido e virou médico. Não sabe rezar, mas adora música. Não sabe ganhar dinheiro, mas tem todos os vícios enunciáveis de público sem corar. É ex-atleta, sem convicção nenhuma e desconfiado.
- 4. Série José Carlos Sardinha 4 É UM MENINO! Publicado em 09 de abril de 2016. “No princípio era o verbo e o verbo se fez carne”1 , “Baaaanng!!!”2 . Dois su- postos começos para o nosso velho Universo. “No dia em que Santiago Nasar iria morrer…”3 . “Nonada”4 . Parágrafos iniciais de dois grandes romances latino ameri- canos. “Penso ser possível alcançar as Índias e o Reino de Cipango velejando para o oeste!”5 . “A sorte está lançada!”6 . Começo de duas grandes aventuras. “É um menino!!!” Gritou a parteira para os que me aguardavam na sala, na noite de 31 de dezembro de 1954. Assim começou a minha grande confusão pes- soal a que chamarei, para os fins que se fizerem necessários, de, vá lá… vida. Não que eu pudesse ser uma grande novidade, pois era o décimo primeiro, no que seria um grupo de doze, ou, décimo sétimo se vingassem os quatro primeiros que não atingiram o primeiro ano de vida. Ou décimo quinto de dezessete, se for verdade a lenda de que minha mãe teria sofrido um aborto espontâneo. Parece- -me, ainda, que meu pai houvera casado anteriormente. Tivera filhos, o que me coloca ainda mais na rabeira da fila. Absolutamente sem importância. Sem nenhum atributo físico marcante que me distinguisse para melhor, em relação a meus irmãos e mesmo aos moleques da vizinhança, a partir de dois anos meu esquálido corpo passou a ser agitado e desligado por crises convulsi- vas periódicas, que receberiam o diagnóstico de epilepsia. Não faltaram vizinhos
- 5. Série José Carlos Sardinha 5 e conhecidos que atribuíram aquelas mazelas a feitiços, mau olhado, coisas do povo que frequentava o canjerê. Indivíduos depositários do mais profundo ódio de meu pai, que a eles atribuía a doença mental, que teria ceifado a vida de sua primeira esposa. Profundamente religioso, se bem que à sua maneira, meu pai detestava as pessoas que acreditavam ou que militavam no candomblé, macum- ba, feitiçaria espiritismo e correlatos. Se saudável eu não era ninguém, a epilepsia tornou-me centro das atenções, o que demandava cuidados. E, até onde consigo me recordar, eles foram fartos. De minha mãe, de meu pai e de meus irmãos. Alguém sempre estava escalado para cuidar de mim. Se sobreviesse alguma crise epilética, o plantonista segu- raria o rojão. Era também responsável por ministrar-me as doses adequadas de Gardenal com chá de hortelã e raspa de chifre de boi. Vantagem adicional proveu-me ainda a epilepsia. Periodicamente tinha que viajar para consulta com o especialista que cuidava do meu caso, em outra cida- de. O ônibus (Empresa Malerba ou Pássaro Marrom), pastéis de carne ou empa- dinhas com caldo de cana, no boteco da rodoviária, privilégios inesquecíveis aos quais os saudáveis da casa raramente tinham acesso. Meu irmão mais velho adorava música lírica ou napolitana. Tinha um ami- go que era o barítono (ou tenor) do coro da igreja local que, por sua vez, adorava tomar o meu Gardenal, e que se ofereceu para ser meu padrinho. Este mesmo irmão era o goleiro do melhor time de futebol da cidade, verdadeiro ídolo local, donde o técnico do time viria a ser o meu outro padrinho. Apadrinhado pelas ar-
- 6. Série José Carlos Sardinha 6 tes e o esporte, alguns me propugnaram um luminoso futuro nessas esferas do fazer humano. O grande maestro e compositor Carlos Gomes teria sido a inspiração primei- ra para o meu nome, mas alguém mais sensato, certamente, recomendou incluir um José, antecedendo o Carlos. Humildade e caldo de galinha jamais fizeram mal a ninguém. Conforme os relatos familiares, nasci por volta de 23h 45min de 31 de de- zembro. No entanto meu pai registrou-me no cartório local como tendo nascido no dia 1º de janeiro. Assim, passei a desfrutar de duas datas seguidas para come- morar aniversário, jamais me empenhando seriamente em esclarecer qual seria a data correta. Se esquecer a data de aniversário é falta gravíssima numa amiza- de, esquecer duas daria a medida exata do pouco afeto que uns afirmavam me ter. Em verdade nossas minguadas posses familiares não possibilitavam o hábito comum de comemorações festivas de cada aniversariante, até mesmo porque seriam catorze festas no ano, impensável. Meu padrinho barítono (ou tenor) nun- ca se lembrava, a não ser se estivesse carente de uma dosezinha de Gardenal. Já meu padrinho, técnico de futebol, jamais se olvidou. Sempre por volta de oito horas da noite do dia 31, comparecia com uma lata de goiabada ou marmelada, que era sofregamente degustada por todos os presentes.
- 7. Série José Carlos Sardinha 7 ¹ Gênesis ² (Teoria do BIG BANG). ³ Gabriel Garcia Marques. “Crônica de uma morte Anunciada” 4 João Guimarães Rosa. “Grande Sertão: Veredas” 5 Cristóvão Colombo perorando junto à Corte de Espanha. 6 Julio Cesar ao cruzar o rio Rubicão
- 8. Série José Carlos Sardinha 8 O LUGAR Publicado em 21 de abril de 2016. Piquete fica no Estado de São Paulo, entre as serras da Mantiqueira e do Mar, no vale criado pelo Rio Paraíba do Sul. Tem por epítome a singela expressão de “Cidade Paisagem”. Seu modesto casario, à época ocupado por cerca de 10.000 habitantes, distribui-se por incontáveis encostas e pequenos vales, alinhavados por estreitos “ribeirões”. Clima pelo geral ameno, com invernos e verões por ve- zes severos. Flora e fauna típicas da Mata Atlântica. Seu nome derivaria de um piquete de cavalaria que aí teria existido lá pelos tempos do Império, algo como um local onde as tropas, que se deslocavam a cavalo ou burros para Minas Gerais, pudessem descansar e fazer as mudas necessárias. Fronteirava-se em São Paulo com Lorena, Cachoeira Paulista e Cruzeiro. Itajubá seria a cidade mineira mais contígua. Vivia-se essencialmente de atividades agropastoris, um pouco diferente do que teria se dado com as demais cidades do Vale do Paraíba, no século anterior. O plantio de café nunca foi muito forte aí, tendo nossos fazendeiros optado mais pela criação de gado leiteiro. Em 1909 o Exército implantou na periferia do municí- pio uma gigantesca fábrica de pólvora (ufanissimamente nos ensinavam que era a maior de toda a América do Sul), que daí por diante seria a principal atividade geradora de emprego e renda da cidade, com notória influência microrregional. Jamais conheci a casa onde nasci, sei que nas conversas do dia-a-dia a de- nominavam de a “casa da usina” e que ficava em um sitio de rara beleza. Entre os anos 1956 e 1962, minha família habitou o que no jargão doméstico seria a
- 9. Série José Carlos Sardinha 9 “casa do calipeiro”. Situava-se nas bordas de uma gigantesca plantação de eu- caliptos (daí a corruptela “calipeiro”), primeira grande ação de reflorestamento que tive contato. Como a fábrica de pólvora era movida basicamente por vapor, consumiam-se quantidades bíblicas de madeira, o que seria substituído poste- riormente por carvão. Por ser tabagista de longas décadas meu nariz tem pouca valia, mas o cheiro de eucalipto ficou impregnado em minha memória de forma indelével. Pelos meus padrões de hoje, seria uma casa minúscula. Quatro pequenos quartos, um banheiro, uma cozinha e uma sala. Tudo “pititiquinho”. Mas quan- ta coisa cabia nela! Catorze pessoas. Nove homens e cinco mulheres. Meu pai e minha mãe, meus sete irmãos e minhas quatro irmãs. E se aparecesse alguém mais (nem precisava avisar com antecedência!) dava-se um jeito. Dividíamos ca- mas, cobertas, pratos, talheres, toalhas e roupas. Nosso quintal era o mundo. Sem cercas ou muros, gatos, cachorros, patos, galinhas e até um eventual bacorinho, transitavam livremente pelos cômodos da casa (para o horror, é certo, de minha irmã mais velha!). Cozinhava- se num fogão à lenha os citados bichinhos e as ver- duras plantadas nas proximidades. Não tínhamos vizinhos próximos. As casas mais imediatas distavam algu- mas centenas de metros ou mais. Mas, parecia-me que todo mundo passava por nossa porta, não me recordo de conflitos ou desavenças significativas. Meus pais e irmãos pareciam ser amigos de todos e com todos tinham sempre algo apa- rentemente agradável para tratar. Não raro recebíamos visitas, primos, tios ou simplesmente conhecidos de longa data. Sem transporte coletivo, chegavam de
- 10. Série José Carlos Sardinha 10 cavalo, charretes ou, o que era mais frequente, a pé. Sem causar constrangimen- to aos visitantes, minha mãe e irmãs tratavam de, sub-repticiamente, fazer um inventário da comida disponível. Se necessário, matava-se um franguinho ou um pato, colocava-se mais água no feijão ou um dos “moleques” (um e nós) corria aos vizinhos mais próximos em busca de uma xícara de arroz ou açúcar suplemen- tar. Sabíamos, serenamente, que se o caso fosse contrário, seríamos recebidos da mesma forma. Por volta de meados de 1962, meu pai fez um acordo (do qual nunca entendi claramente a motivação) com um tio, irmão de minha mãe, e trocamos de casas. Eles vieram para o “calipeiro” e nós fomos morar na casa “de tábua”. No inicio foi um horror. Recordo-me de algumas de minhas irmãs extremamente indignadas e resmungando pela casa. Cheguei a ver um pequeno texto, redigido por uma delas, designando a pobre casa como “inferno de tábuas”. Quente, com um mi- núsculo quintal, sem árvores, cercada de muros e vizinhos desconhecidos, próxi- mo ao hospital local, numa rua estreita e asfaltada, no centro da cidade. Mas no final não aconteceu nenhuma revolução e tudo se ajeitou, até que em dezembro de 1964 nos mudamos para a cidade vizinha de Lorena. A “casa de tábua”, pelo menos para mim, com o tempo revelou ter seus en- cantos. Era colada ao “lenheiro”, um grande galpão e terreno igual, onde arma- zenava-se a lenha que seria consumida pelos fornos da grande padaria mantida pela Fábrica de Pólvora, que daqui por diante será chamada simplesmente de a “fábrica”. Acho pertinente, pois além de não me lembrar de qualquer outra fábri- ca no município, ela era determinante em praticamente todos os momentos da vida da maioria dos piquetenses.
- 11. Série José Carlos Sardinha 11 Parecia-me não haver vida para além da “fábrica”! Esta padaria e a “cantina” (um grande empório também mantida pela “fábrica”), distavam menos de cem metros da “casa de tábua”. No “lenheiro” ainda havia um forno para torrefação de café, que nos brindava, casa adentro, com um aroma extremamente agradável. Mas o melhor mesmo, é que bastava atravessar a rua em frente à casa para aden- trar-se ao estádio de futebol da cidade, sede do glorioso Estrela Futebol Clube.
- 12. Série José Carlos Sardinha 12 A VIDA COMO ERA (1) Publicado em 28 de abril de 2016. São fragmentadas as recordações relativas aos meus primeiros seis anos de vida. Lampejos vinculados a minha doença, como quando caí no riacho próximo ao correr atrás de um dos meus irmãos mais velhos, na tentativa de cruzar uma ponte improvisada com troncos de bananeira, durante uma enchente. A queda da garupa de um cavalo, motivada pela impaciência do meu irmão, plantonista daquele momento, que entre me vigiar e cavalgar como desejava, resolveu fazer os dois ao mesmo tempo e, compulsoriamente, e impingiu-me um passeio que durou poucos minutos. Uma “suruba” infantil”, da qual só me recordo as goza- ções de meus irmãos, relatando como eu, uma de minhas irmãs e uma vizinha, todos com mais ou menos a mesma idade, fomos surpreendidos nus, em uma casa abandonada. Tinha eu 3, 4 anos? Não sei! Consigo datar, por serem efemérides, a alegria coletiva pela vitória do Brasil na Copa do Mundo de Futebol em 1958. Lembro-me do profundo desgosto de meu pai com a vitória da Revolução Castrista em Cuba na virada de 58 para 59. Seu desejo era de que os americanos, que amava, afundassem aquela maldita ilha com uma bomba atômica. Aliás, uma de suas mais frequentes imprecações quando estava irado, era desejar enfiar uma bomba atômica no rabo de seu de- safeto do momento. Creio ser também deste período as minhas primeiras ab- sorções musicais. Meus pais cantavam músicas sertanejas (Alvarenga e Ranchi- nho, Teixeirinha, Tião Carreiro e Pardinho, Catulo da Paixão Cearense, Cascatinha e Inhana). No rádio se ouvia Orlando Silva, Inezita Barroso. Guarânias paraguaias,
- 13. Série José Carlos Sardinha 13 tangos argentinos, baiões nordestinos, sambas cariocas e a incipiente bossa-no- va. A primeira letra de música que memorizei começava assim: “Quero beijar-te as mãos minha querida. Senta junto de mim meu novo amor. És o maior enlevo da minha vida”. Só meu pai e minha irmã mais velha trabalhavam. Ela, concluído o Curso Normal aos 18 ou 19 anos, se tornara uma respeitadíssima professora do antigo primeiro grau. Ele pouco escrevia, mas sempre gostou de ler muito, assim como dar palpites sobre qualquer assunto. Era muito convicto de suas opiniões. Uma delas me relatou no leito de um hospital, praticamente às vésperas de morrer, numa noite memorável em que não dormimos. Ele me contou grande parte de sua vida e que nenhum de seus filhos precisaria pegar em cabo de enxada, tal qual fizera por toda vida. Teríamos que ser martelos e não pregos. Seus colegas de trabalho escarneciam dessa postura, atribuindo-lhe arro- gância e soberba. Se era analfabeto, os filhos não seriam. Assim, empurrou todo mundo para a escola. Só admitiria alguém se empregar depois de concluir o cur- so Científico, como era chamado segundo grau naquela época. A casa era quase como uma república de estudantes. No jantar, todos ficávamos juntos à mesa. Grandes caldeirões de sopa fu- megantes, colocados no centro da grande mesa, donde cada um se servia com generosas “conchadas”. Era o momento das broncas que eventualmente alguém poderia receber, elogios quando justificados e muita conversa sobre o dia-a-dia. Terminada a refeição vinha o café e o “paiero”, para os que fumavam. Nunca fo-
- 14. Série José Carlos Sardinha 14 mos proibidos de fumar, nem de tomar uma branquinha (que nunca faltava), desde que em casa. Removidos os pratos, talheres e vasilhas usadas; mesa limpa, todos se lançavam às suas tarefas escolares, e a tertúlia se instalava. Em média 2 anos de idade separavam cada um de nós. Estudamos todos nos mesmos colégios, com os mesmos professores, livros e até mesmo as fardas passavam do mais velho para o mais novo. Assim, os mesmos conteúdos teóricos eram repisados, ano após ano, naquela mesa. Mesmo sem idade escolar, ficava no meu canto a ouvi-los. Travei meu primeiro contato, se assim se pode dizer, naquela mesa ou no seu entorno, com a hipotenusa que elevada ao quadrado era igual à soma dos quadrados dos catetos; com os versos de “Juca Pirama“ e “Navio Negreiro”; Seno A cosseno B, é igual a seno B cosseno A. Impressionei-me vividamente com Pedro Álvares Cabral, Colombo e Tiradentes. Detestei Calabar e o grego sujo que traiu os trezentos de Esparta. Desejava ardentemente que atin- gisse a idade de matrícula no primeiro ano primário (o tal jardim da infância era coisa de gente rica) para poder participar ativamente daqueles debates. Meu pai saía para o trabalho ao alvorecer. Os que estudavam no turno ma- tutino tinham que chispar da cama logo cedo, enquanto os demais podiam dor- mir mais um pouco. Minha mãe acordava antes de todos para acender o fogo e preparar a refeição matinal. A lenha era composta de um ou mais pedaços de tronco de árvores e um amontoado de gravetos secos. Destes, o fogo incandescia a madeira mais grossa, que ardia por várias horas, sendo realimentado quando necessário. Lembro-me claramente de seus olhinhos negros espremidos para evitar a fumaça, e suas bochechas infladas soprando as chamas incipientes até
- 15. Série José Carlos Sardinha 15 que se consolidassem. O bule de metal permanecia o dia todo sobre o fogão, as- segurando café quentinho todo o tempo, coisa essencial para os que curtiam um bom “paero”.
- 16. Série José Carlos Sardinha 16 A VIDA COMO ERA (2) Publicado em 03 de maio de 2016. Café preto puro e pão com manteiga. Parece-me que leite não era habitu- al naquela época. O pão era o “de sal”, que, mais tarde vim a saber, se chamava também de pão “francês”. Em Manaus denomina-se pão de “massa grossa”, con- trapondo-se ao de “massa fina”, que em Piquete chamávamos pão “doce”. Comí- amos ainda, mais nos lanches no decorrer do dia que no café da manhã, inhame, mandioca, batata doce, cará e milho verde. Bolão de fubá ou fécula de batatas, frequentemente também eram disponibilizados. Paçoca de amendoim, pamo- nha e curau de milho verde, assim como canjica de milho branco, eventualmen- te, se faziam presentes. Este mesmo curau, no Amazonas, denomina-se canjica e a canjica de Piquete é o mungunzá de cá. Minha mãe era uma baita de uma cozinheira. Seus doces, caracteristica- mente sempre bem curados, de batata doce, banana, mamão verde, marmelo, goiaba, laranja, entre outras frutas, eram antológicos. No almoço, o indefectível arroz com feijão, acompanhado de verduras da horta doméstica e a “mistura”, a depender das disponibilidades. Esta podia consistir de carne de vaca (não sei por que não se dizia de boi), adquirida no açougue da “fábrica” (sempre ela!), porco, frango ou pato do “terreiro”. Não me recordo de caça (e olha que o Ibama ainda nem existia!) e peixe, era pouco comum. O açúcar, o sal, pimenta do reino, arroz, feijão, macarrão eram adquiridos na cantina da fábrica e consumiam a quase to- talidade do salário mensal de meu pai.
- 17. Série José Carlos Sardinha 17 Todos os meses se fazia “a compra”. Uma lista era escrita por um dos irmãos, acatando as determinações materna, que podiam receber adendos paterno ou filiais. Afora o básico já citado, meu pai fazia questão incluir um ou dois pacotes de cigarros de papel (não dos mais caros!) e uma ou duas garrafas de cacha- ça, tudo para ser consumido em casa. Às vezes tinha até bacalhau verdadeiro! Lembro-me ainda das manjubas (peixinho salgado) e do “mulato velho”, peixe salgado das costas brasileiras, que era uma espécie de bacalhau de pobre. No al- moço dominical degustava-se frango assado de forno com macarronada. Vinho e guaraná só nas grandes festas, como batizados e Natal. Nesta data a “fábrica” costumava distribuir, para seus empregados e dependentes, “cestas de Natal”, que traziam guloseimas incomuns ao longo do ano. Os vinhos costumavam ser “joias” da enologia brasileira, como “Sangue de Boi” e “Gatão”. O vestuário disponível era escasso, uma mesma peça de roupa ou sapato tinha que ser compartilhada por mais de um Sardinha, passando para os mais novos à medida que crescia. Consertos ou reformas eram demandas permanen- tes. Esses arranjos nem sempre eram tranquilos, por vezes dava encrenca. As- sim ocorria quando um ou outro programava usar uma determinada peça num evento ou programa e outro ou outra tinha a mesma ideia para evento ou pro- grama distinto. Recordo-me de uma vez em que um de meus irmãos mais velhos passou um dia inteiro a consertar um sapato velho para um encontro com uma namorada nova. Conserto feito, foi engomar sua calça de linho branco e tomar banho. Quando procurou pelo sapato recuperado, outro irmão tinha se apodera- do e garbosamente ido para o seu programa. A ira do empreendedor foi cataclís- mica.
- 18. Série José Carlos Sardinha 18 A VIDA COMO ERA (3) Publicado em 10 de maio de 2016. Uma grande parte das residências da cidade era propriedade da (adivinhe?) “fábrica”, que as disponibilizava para seus empregados, mais ou menos conforme a posição na hierarquia do quadro funcional. Os militares eram a elite do lugar, pois ocupavam as funções mais importantes na empresa. Residiam nas casas de uma espécie de condomínio aberto, denominado “Estrela”. Morar ali era um tre- mendo status. Muitos trabalhadores da “fábrica” moravam fora dos limites terri- toriais da mesma, inclusive outras cidades, como Lorena. Um trem exclusivo fazia o transporte de todos até o interior das oficinas. Nunca adentrei as linhas de pro- dução da “fábrica”, mas imaginava-as gigantescas, com seus 5 ou 7 mil operários. Eventualmente ocorriam acidentes graves, com explosões de amplos setores da produção, que resultavam em mortes. Lembro-me da sensação mórbida, cole- tiva, quando o silêncio do dia ou da noite, na pacata Piquete, era alterado por um “buuumm” ao longe. De imediato todos se calavam para apurar os ouvidos. Seguia-se a pergunta única: “Foi na fábrica?”. E alguém sempre emendava de pronto: “No terceiro grupo!”. Outro: “Não! Foi no quarto grupo!”. Saber qual o se- tor que tinha sido atingido significava estar mais próximo ou mais distante – por parentesco ou conhecimento – de uma provável vítima. Havia uma única piscina na cidade (da “fábrica”, evidentemente!). Um certo apartheid consentido dividia o seu uso em dias para operários e seus dependen- tes e dias para a elite. Jamais entrei nela. Não tinha idade para tal. Meus irmãos a freqüentavam, parece que regularmente. Junto havia uma área extensa, com campo de futebol, caixa de areia para saltos e um grande pórtico, com talvez uns
- 19. Série José Carlos Sardinha 19 15 metros de altura. Saltar daí na areia era rito de iniciação básico para qualquer um que não quisesse parecer mariquinhas. E que não paire dúvidas que o fiz quando instado a tal. Meu irmão mais velho, a esta altura já um garboso aluno da Escola Militar de Agulhas Negras-AMAN, adorava todos os esportes. Achou que eu levava algum jeito para o atletismo e tentou me ensinar o salto triplo. Naquele início dos anos 1960 ainda reverberava, Brasil afora, os ecos das glórias de Ademar Ferreira da Silva e Nelson Prudêncio, que tinham sido recordistas mundiais dessa modali- dade. Ensinou-me também (ou tentou!) o salto em altura. O método dominante diferia do que hoje se pratica, quando se salta de costas. Praticava-se o “rolo”, que teria sido desenvolvido por um americano chamado Osborne, salvo erro. Com passadas ritmadas corria-se obliquamente em direção ao obstáculo, batia-se for- temente com o pé esquerdo (para mim que sou destro) a cerca de vinte centí- metros da vara e lançava-se a perna direita o mais alto que se pudesse, rolando a barriga sobre esta e caindo na areia de costas. Curiosamente dei-me melhor no salto em altura do que no triplo. Ironicamente, anos mais tarde, numa com- petição colegial regional, em São José dos Campos, fui humilhantemente derro- tado nesta prova por um moleque negro, magrelo, desengonçado, sem técnica nenhuma e que três anos depois o mundo ficaria conhecendo como o João do Pulo. O danado, simplesmente, bateu o recorde mundial de salto triplo nos jogos Pan-Americanos, na Cidade do México.
- 20. Série José Carlos Sardinha 20 A VIDA NA CASA “DO CALIPEIRO” Publicado em 17 de maio de 2016. De volta à vida na casa “do calipeiro”, registre-se que a maior parte das famí- lias era de numerosos filhos, dez ou mais, como na nossa. Ainda se vivia em um Brasil predominantemente rural e produzir braços para a lavoura era o paradig- ma em vigor. E, claro, demonstração de macheza e fertilidade. As amizades ou companheirismos entre membros das diferentes famílias eram escalonados con- forme as diferentes idades. Filhos de dezoito anos de uma família relacionavam- -se com os filhos de dezoito anos de outras. E assim sucessivamente. Não raro, se me aproximava de um irmão mais velho, que conversava em sua roda especifica, era enxotado com uma frase como: ”cai fora moleque, isto não é conversa pra você”. Coisa que, é claro, reproduzi em relação a meu único irmão mais novo. Minhas irmãs brincavam de roda e bonecas, como todas as demais. Tínha- mos uma vizinha (Dona Mirtes, acho) que era a grande costureira local. Fazia nos- sas roupas e, parece, não cobrava muito caro por isso, ou talvez fiasse. Maldosa- mente pensando, talvez o fizesse porque um de meus irmãos fosse o namorado de sua única filha, que era feia de doer. Ele por sua vez era um dos grandes e poucos partidos das redondezas. Diferente da maioria dos adolescentes daquela época, seguindo a filosofia educacional de meu pai, não parou de estudar ao fim do Científico e estava em vias de ingressar, assim como o irmão mais velho, na carreira militar. Vai daí que, futura sogra de um oficial do glorioso Exército Brasi- leiro, em Piquete, seria o sonho.
- 21. Série José Carlos Sardinha 21 Minhas irmãs frequentemente me encarregavam de ir à casa de Dona Mir- tes para que esta lhes fornecesse restos de pano -retalhos melhor dizendo – que em nossa casa seriam transformados em roupas de bonecas. Com isso adquiri alguma intimidade com o tafetá, a cambraia, o gorgorão, o morim, o brim e o veludo. Assistia minhas irmãs em suas artes e acho que cheguei mesmo a dar alguns pontos, porcamente alinhavando dois pedaços de pano. Um de meus ir- mãos presenciou essa heresia e me enquadrou devidamente, informando-me que tais arroubos não poderiam ser permitidos a um macho da família. Que fosse brincar de bola, caçar passarinhos com estilingue ou nadar no ribeirão. Talvez aí a alta costura brasileira, mesmo internacional, tenha sido a mais prejudicada, dan- do chance para outros, menos talentosos, se projetarem mundialmente, como Denner, Armani, Chanel e Gucci. Meu irmão, o que namorava a feia, era um exímio desenhista, à mão livre. Desenhava principalmente cowboys. Esse talento reapareceu também em mim, sem que, porém, jamais atingisse o nível dele. Mas era elogiado em casa e che- guei mesmo a acreditar que era bom naquilo. Em minha primeira semana de escola houve um concurso de desenho na minha sala de aula. Caprichei o má- ximo que pude e produzi uma gravura com cowboys e índios americanos, com seus cavalos e tendas piramidais. Os colegas que a viram antes de entregar para a professora ficaram admirados. Comentando em casa, todos foram categóricos em dizer que minha vitória eram favas contadas. Não foi. Perdi para um outro coleguinha com um desenhozinho bem chinfrim (ó despeito!). Chorei como be- zerro desmamado e exigi que alguém maior fosse chamar a professora às falas. Era uma flagrante injustiça. Após o confronto solicitado fui informado que meu
- 22. Série José Carlos Sardinha 22 desenho nem foi incluído na competição por ser bom demais, muito acima do nível máximo esperado. Acreditei e sustei meu pranto. Passado algum tempo co- mecei a achar e depois ter quase certeza de que mentiram, caridosamente, pra mim. O outro camaradinha é que era melhor mesmo. De qualquer forma nunca mais toquei no assunto e convivo com essa dúvida existencial grave até hoje.
- 23. Série José Carlos Sardinha 23 O DIA QUE BRIGUEI COM O DÉLIO E OS HINOS PÁTRIOS Publicado em 24 de maio de 2016. Nunca fui de briga. Aliás, acho que ninguém da família era. Meu pai, embora muito firme em suas convicções, era, creio, um pacifista. Pouquíssima vez um de nós se envolveu em brigas de rua e, até onde me lembro, sempre levamos a pior. Minha primeira briga foi no primeiro ano primário, com meu melhor amigo na turma. Chamava-se Délio. Não faço a menor idéia do motivo. Sei, que para surpre- sa dele, eu tomei a iniciativa. Talvez achando que ele iria se acovardar, como tinha visto outros meninos provocados pelos brigões do pedaço. Surpreendentemente ele, mesmo sem entender porque, me encarou, e não deixou por menos. Na saída da aula, rodinha formada, cumpridos os rituais de praxe (“quem for homem cospe aqui! ”, ”quem for macho cruza esta linha” etc.) assumi a postura que meu irmão mais velho tinha me ensinado ser a característica do Eder Jofre, então campeão mundial dos leves, glória nacional. Punhos erguidos a frente do rosto, elegantes movimentos laterais de pernas e à frente. Recebi um trompa- ço no meio do nariz, que sangrou de chofre (sem querer rimar com o nome do campeão!), seguidos de meia dúzia de chutes na bunda e tapas em toda parte. Aí aconteceu algo que não esperava também. Conforme os gibis que meus irmãos liam para mim, neste momento a refrega deveria se encerrar, pois já estava claro o derrotado. No entanto a turba ignara, patuléia desalmada, queria mais sangue e entusiasticamente empurrava o Délio sobre mim, que por sua vez também não sabia exatamente como se comportar. Era, como me disse depois -imagine só-,
- 24. Série José Carlos Sardinha 24 também a sua primeira briga, não lhe restando alternativa que não continuar a me cobrir de socos, cascudos e pontapés. Não sei quanto tempo durou e nem como acabou. Depois ficamos amigos para sempre. Além de meu instrutor de boxe, salto triplo e em altura meu irmão mais velho fazia questão que todos nós soubéssemos cantar de cor, não só todos os hinos pátrios, mas também os respectivos hinos das diferentes Armas do Exército Brasileiro. Infante que era, e ainda o é, mesmo sendo coronel da Reserva, dizia, obviamente, que o mais bonito era o da Infantaria. Cantado em um ritmo mais ou menos rápido dizia algo assim: “Nós somos esses infantes, cujos peitos amantes, nunca temem lutar. Vencemos. Morremos. Para o Brasil se consagrar!”. Já o da Ar- tilharia era cantado num ritmo mais lento, quase funéreo. Dizia: “Eu sou a pode- rosa Artilharia, que na luta se impõe pela metralha.”. Mas o que eu mais gostava mesmo (mas nunca tive coragem de dizer para ele!) era o hino da Cavalaria. Não me recordo o início, mas que pelas tantas, num tom arrastado, dizia: “...Cavalaria! Cavalaria! Tu és na guerra a nossa estrela guia!” Sabia também hinos de outros países, e nos ensinava. Há menos de um ano atendi um individuo cujo prontuário médico dizia ser nicaragüense. Não perdi a oportunidade e cantei solene: “Salve a ti, Nicarágua!” En tu suelo já no ruge el clamor del canon!”.
- 25. Série José Carlos Sardinha 25 O GLORIOSO ANO DE 1962 Publicado em 31 de maio de 2016. Nunca joguei bola enquanto moramos na casa “do calipeiro”. Ela estava en- cravada, literalmente, na encosta de um morro. À frente descia-se quase que abruptamente em direção ao Ribeirão da Fábrica e a várzea, quase um brejo, que o margeava. Por trás ascendia-se a um morro quase vertical. Nada era plano, a possibilitar, minimamente que fosse, um campinho de “peladas”. Meus primeiros contatos com futebol, se assim se podia chamar aquilo, foi no primeiro semestre do primeiro ano escolar. Com sete anos, portanto. Meus irmãos não me levavam para suas “peladas”, que eram em campos mais distantes. Olhando retrospectivamente, o que se jogava na escola era uma coisa caótica, sem regras, com quantos jogadores coubessem no pequeno cam- po de terra. Sem traves, juiz e com bola de meias, que se desmilinguia no decorrer do jogo. Podia-se passar todo o jogo, que durava até o soar da sineta chamando para as aulas, sem SE tocar na bola. Minha imagem mais nítida daquele estranho esporte era a de dezenas de moleques sujos de suor e poeira, todos tentando, ao mesmo tempo, meter um pedacinho do pé que fosse, na torturada bola de pano. Gol era um evento raro. No segundo semestre do glorioso ano de 1962, nos mudamos para a casa “de tábuas”. Aí o bicho começou a pegar. A proximidade com um campo oficial de futebol possibilitou-me assistir aos treinos dos profissionais. Entender a im- portância e o papel de cada jogador em suas respectivas posições. Havia ainda ali
- 26. Série José Carlos Sardinha 26 numerosos resquícios dos anglicismos que foram muito prevalentes na crônica futebolística brasileira por muitos anos. Assim, dizíamos “half” ao invés de lateral, ”back” em lugar de zagueiro. O mais pomposo era “Center four”, o que me em- purrou para jogar no meio de campo. Meu grande ídolo no futebol local era meu irmão mais velho. Sem grande estatura, acho que um tiquinho roliço, fazia defesas espetaculares. Adorava assis- ti-lo jogar, ficando imediatamente atrás de sua trave. Lembro-me ainda do Da- niel, um mulato claro, zagueiro central classudo e de técnica refinada. Não dava chutões, desarmava os atacantes adversários quase sem fazer faltas e saia jogan- do com extrema simplicidade. Televisão era coisa raríssima em Piquete, àquela altura ouvíamos futebol pelo rádio. E por este veículo acompanhei, junto com todos da casa, a Copa do Mundo de Futebol de 1962. Sem ver, ficava imaginando os dribles endiabrados de Garrincha, a coragem suicida de Amarildo, a elegância de Didi, a garra de Zito e as “pontes” miraculosas de Gilmar. Pelé, mesmo depois de machucado, era o Deus que dominava este Olimpo. Com 40 milhões de desdentados, o Brasil desta época era bi-campeão mun- dial de seleções no futebol. O Santos (de glórias mil) era bi-campeão mundial de clubes, Maria Esther Bueno arrasava em Wimbledon, Eder Jofre era campeão de mundial dos pesos leves. Éramos bi-campeões Mundiais de basquete!! Manoel dos Santos (que nome bem brasileiro! Nada de Cielo ou Xuxa.) tinha batido o re- corde mundial dos 100metros nado livre. Nelson Prudêncio e Ademar Ferreira da Silva – do salto triplo – eram reconhecidos por qualquer moleque nas esquinas de Istambul ou Estocolmo. Era delicioso folhear as páginas das revistas “O Cruzeiro” ou “Manchete”, saboreando os feitos esportivos dos brazucas no exterior.
- 27. Série José Carlos Sardinha 27 AS REVISTAS E GIBIS QUE TÍNHAMOS EM CASA Publicado em 07 de junho de 2016. No texto anterior fiz menção às revistas que sempre tínhamos em casa: O Cruzeiro e Manchete, mas havia outras. Minhas irmãs liam fotonovelas, uma espé- cie de revista em quadrinhos, só que ao invés de desenhos eram fotos em branco e preto. O enredo eram lacrimosos casos de amor, onde o mocinho e a mocinha, sempre mais bonitos que os demais personagens, sofriam pra cacete antes de serem felizes para sempre. As páginas de anúncios de lingerie eram as que mais atraíam minha atenção. ”Grande Hotel” e “Capricho” são os únicos títulos de que me recordo. Manuseávamos freneticamente “gibis”. Meu predileto era “O Zorro”. Afirmo peremptoriamente que o fato dele andar de máscara, seu cavalo “Silver” sempre esperar por ele atrás de um morrinho, sua intimidade com o índio ”Ton- to” e suas roupas apertadas, jamais amassadas, nunca me fizeram duvidar (como queriam e ainda querem alguns despeitados) de sua virilidade e elevado apreço pelos melhores valores morais da cultura civilizada cristã. “Mandrake”, “O Fantasma” (também de máscara, roupa apertada, seu ami- guinho chamado “Guru”, seu cachorro “Capeta” e uma namorada que ficava sozi- nha com ele na caverna, mas a quem, respeitosamente, ele só dava umas bitocas de vez em quando!) “Super-Homem”, “Capitão Marvel” e os diversos títulos de Walt Disney eram comuns em nossas mãos. E os trocávamos com os colegas vizinhos ou os levávamos para a porta do cinema para trocar com garotos de ou- tros bairros. Meus irmãos mais velhos manuseavam um outro tipo de revistinha, essa eles não me deixavam ter acesso. Se estavam a lê-las e eu me aproximava,
- 28. Série José Carlos Sardinha 28 me enxotavam com aquelas frases relativas ao que minha idade permitia ou não. Um dia ouvi dizerem que eram suecas. Nunca descobri onde as escondiam. Ir ao cinema era coisa muito rara e, portanto, muito especial. O único cine- ma de Piquete pertencia (adivinhe!) à “fábrica”. O primeiro filme que pude assis- tir chamava-se “Marcelino pão e vinho”, um filme espanhol em branco e preto. História de um moleque pobre e sua família, num vilarejo pobre. Acho que não chorei, provavelmente porque, naquela época, pobreza não me impressionava muito. Os seguintes foram predominantemente de “cowboys”. Gostava muito dos cinejornais e seriados que antecediam ao filme princi- pal. Estes se caracterizavam pela possibilidade de o herói morrer por tiro, faca, atropelamento, queda, envenenamento, serra circular, paredes móveis ou surra, mais ou menos a cada três minutos. Sempre era salvo na última hora ou tinha sua salvação protelada para o próximo episódio. Entre um domingo e outro ficá- vamos dando tratos à bola, tentando adivinhar como ele iria se safar no próximo episódio. Eu mesmo, várias vezes, jurava que daquela vez não tinha saída. Penso que, talvez, meu, às vezes contestado, otimismo, tenha se originado no escurinho do cinema em Piquete.
- 29. Série José Carlos Sardinha 29 OS CURSOS D’ÁGUA DE MINHA INFÂNCIA Publicado em 14 de junho de 2016. Viver hoje no Amazonas (com sua maior bacia hidrográfica do mundo!) não foi o suficiente para reduzir a importância de dois pequenos cursos d”água de minha infância. Nunca soube de seus nomes na cartografia oficial do município. O primeiro a que denominávamos “Ribeirão da Fábrica” serpenteava ‘a frente e abaixo da casa do “calipeiro”. Não sei onde nascia, mas passava por dentro da “fábrica”, pela frente de minha casa, juntava-se a outros no trajeto até o Rio Pa- raíba. Era completamente destituído de vida aquática. Nem um mísero peixinho se aventurava em suas águas. O mais próximo disto – mas bem distante na clas- sificação zoológica – eram os membros da família Sardinha. Tal se dava porque o coitado recebia todos os dejetos químicos da “fábrica”, o que ocorria de forma metódica e regular (lembre-se que Marina Silva e a ONG “Mata Atlântica” ain- da não existiam e ecologia/desenvolvimento sustentável/preservacionismo eram coisas tão esquisitas como engravidar e não casar.) Assim, em dias que não havia “descarga na fábrica” suas águas eram límpidas e cristalinas, enquanto que nos dias de “descarga” tornavam-se negras ou marrons (conforme os resíduos des- carregados.). Não se podia nadar nele. Limitava-me a explorar as matas em suas margens, ladeando-o quilômetros montante acima. Já o outro ribeirão passava por trás da casa de “tábuas”. Sujo que só, mas não recebia tantos produtos químicos como o primeiro e era cheio de vida. Prin- cipalmente guarús, mas também lambaris, traíras e bagres. Era o que havia. Nele aprendi a pescar de peneira. Surrupiava a maior peneira de arame disponível na
- 30. Série José Carlos Sardinha 30 cozinha e em menos de cinco minutos já adentrava o seu leito que, no geral, ra- ramente tinha profundidade maior que um metro. Procurava os locais onde o capim crescia e se derramava sobre a água for- mando uma franja verde. Segurava a peneira fortemente, com as duas mãos e mergulhava por baixo do capim e a levantava rápido e verticalmente. Junto com lama e restos de vegetais sempre emergiam surpresos peixinhos. Raros eram os que tinham dimensões que os tornassem dignos dos temperos de minha mãe. Levava-os para casa, colocava-os em um vidro com água na expectativa que, as- sim como na natureza, viessem a crescer. Parece que não achavam muita graça nisso, pois morriam todos, no máximo até o dia seguinte. Fui um ictiocida. Em 1964, aos 62 anos meu pai se aposentou da “fábrica”. Meu irmão mais velho (agora já segundo tenente do Exército), acho que com a ajuda também de minha irmã mais velha, comprou-nos uma casa em Lorena, cidade vizinha. Toda a tralha – movente e semovente – foi amontoada na carroceria de um velho cami- nhão de um conhecido, e lá fomos nós para a terceira casa de minha vida. Onde viveria minha adolescência.
- 31. Série José Carlos Sardinha 31 CHINA Publicado em 21 de junho de 2016. China, assim todos a chamávamos. Nunca soube o porquê, o que por sua vez é uma nota contínua ao longo de minha vida. Hoje me dou conta que assimilei um mundo de coisas sem perguntar por quê. (Droga! Esse raio de acento existe aí? Só no primeiro porquê? Mais uma que não perguntei!). Teria a ver com o país China? Ou seria China no sentido que os gaúchos e castelhanos dão para mulher jovem e fogosa? Nunca vi relação nem lá nem cá. Seu nome na pia batismal é Yrani da Silva Sardinha. O meu nome Sardinha é antecedido de Gomes, o que vale para todos os demais irmãos homens, diferenciando-se apenas o Joel (morreu há cerca de dois anos) que era Silva Sardinha como todas as quatro mulheres e o Edmilson, que é Ramos da Silva Sardinha. Neste caso parece que o Ramos (do lado de minha mãe: Benedita Ramos da Silva Sardinha) foi acrescentado para diferenciar do um irmão anterior que teria morrido com apenas alguns meses de idade. Também, e frequentemente a chamávamos, maldosamente, de Boca Torta. Razões óbvias. O que hoje sei ter sido um episódio raro de paralisia permanente e progressiva do ramo direito do nervo facial, produziu a deformação do lado direito de seus lábios e provocou a queda da pálpebra inferior correspondente. Tinha pouco mais de um ano de idade acima de mim. Nasceu acho que em outubro ou novembro de 1954. Décima na escadinha dos filhos sobreviventes de Benedita e Julio Sardinha. Creio que desde sempre fomos próximos e a mais
- 32. Série José Carlos Sardinha 32 antiga recordação que tenho dela, relatei anteriormente, quando fomos surpre- endidos juntos com uma amiguinha comum, no interior de uma casa desocu- pada. Brincamos juntos de bola, de roda, de pega, de esconde-esconde, bandido e ladrão. Ela lia e me fazia recomendações, que eu seguia e gerava conversas só nossas. Quando comecei a frequentar o cinema de Piquete ou a ir aos circos que esporadicamente por lá estacionavam, estávamos juntos. Me apoiava nas tenta- tivas toscas de imitar os acrobatas ou me fantasiar de Zorro. Ela não participava, só me aplaudia, eu acho. Na adolescência, enquanto eu jogava futebol, ping-pong e empinava papa- gaios, ela jogava vôlei. Anos 1967, 68 e 69, talvez. Seu primeiro, e único namorado, até onde sei, foi seu futuro marido e pai de seus filhos: José Midões, vulgo Zé Gaiola. Sei que o namoro começou em 67 por causa de dois discos que ele deu de presente para ela, na primeira vez que veio em nossa casa, os recém lançados: Johnny Rivers, cantando “Do you wanna a dance?“, “Speedy Gonzalez“, “By the time i get to Phoenix” e outras; e Ray Connif e seus cantores, interpretando “Don’t sleep on subway, darling!” , ”Up,up and away” e como música título o tema de “A primeira noite de um homem” (primeiro grande sucesso de Dustin Hoffman), “The sound of silence“. Meu irmão Dão já começava a dar seus primeiros arpejos no velho violão que tinha ganho e, rapidamente, já entoávamos essa canção de cor.
- 33. Série José Carlos Sardinha 33 “Hello darkness, my old friend, I want to talk with you again. Because a vision softly creepping…” Nunca a vi jogar, mas sei que era muito boa. Minha outra irmã também era do time de vôlei da cidade, mas só a China era titular absoluta. Era o que na épo- ca se chamava de a “cortadora”. Era a atacante que a levantadora ou as demais jogadoras buscavam no ataque para definir o ponto, nunca vi. Ouvia de minha irmã e de colegas que tinham o privilégio de serem sócios do Clube Comercial. Não me era permitido frequentá-lo, coisa da elite local, a que ela tinha acesso por suas qualidades de atleta sem noblesse oblige. Por essa época uma transfor- mação outra começou a se dar também. Tornou-se, pelo menos aos meus olhos, mais bonita. Mas estou certo que não foram só aos meus olhos, tinha de fato se tornado uma quase mulher, muito atraente. Se o rosto não ajudava, as minissaias que Mary Quant tinha acabado de inventar, revolucionando a moda feminina no mundo, caíram nela como uma luva, ou como uma espada, uma metralhadora. Sei lá! Nunca dentro de casa, é claro. Nosso pai a esquartejaria. Mas do portão da rua para frente, voilá, curve-se malta! Cinco ou seis dobraduras no cós e a barra da saia subia, libertando os joelhos e as musculosas coxas de atleta. Passos fir- mes, olhar forte muito para adiante da curva da estrada ou da próxima esquina. No começo achei ruim, misto de vergonha ou ciúme de meus colegas de rua, que a olhavam de um jeito pecaminosamente faminto. Ficava absolutamente encantadora, charmosa, quando, nos sábados à noite, principalmente nas do frio inverno de julho lorenense, de botas meio cano, agasalho de lã quadriculado, predominando vermelho e preto, do mesmo tamanho da minissaia, um cachecol
- 34. Série José Carlos Sardinha 34 no pescoço e uma boina “guevariana” segurando uma parte dos cabelos negros, lisos e sedosos, que escorriam pelas costas, desfilava no footing da praça Arnoldo Azevedo. Suponho que tenha sido esta visão que atraiu o Zé Gaiola. Não gostava, nem desgostava dele, apenas achava que se era bom para ela era bom para mim também. Bebia muito, mas quem não bebia muito aos 19 ou 20 anos, na Lorena de 1968/69 ? Tinha uma família agradável, seu pai eventual- mente vinha à nossa casa e conversava amistosamente com meu pai. Acho que todos, de um jeito ou outro, o aceitamos entre nós. Tinha um bom emprego, na concessionária da Volkswagen, em Guaratinguetá, cidade vizinha. Coisa rara na- quela época. Se amavam? Sei lá! Acho que sim, tenho certeza que ela era feliz, a despeito de nossas limitações materiais e escassa margem de ação que nosso pai nos dava. Era estudiosíssima. Sempre a primeira da classe. E dizia com firmeza que seria médica. Ninguém duvidava que seria mesmo, era sempre um ano à minha frente na escola. Ela brilhante, eu mediano, toupeira. 1971 foi nosso último ano compartilhado na escola. Ela concluía o então cha- mado Colegial como a melhor aluna nos três anos, com direito a homenagens, medalha e discurso na festa de formatura. Eu, no segundo colegial, tinha tido a melhor performance do colégio nos jogos estudantis do Vale do Paraíba. Ganhei a prova de 100mts rasos, única medalha de ouro do colégio nestes jogos (aque- les da humilhação que o João do Pulo me fez passar). Ao término do ano fui ho- menageado também. Havia uma prova de revezamento entre alunos de todas as escolas de Lorena, como encerramento do ano esportivo colegial da cidade. Percorria todas as principais ruas da cidade e terminava em nosso Colégio. Cada
- 35. Série José Carlos Sardinha 35 aluno corria cerca de quinhentos metros e passava um bastão para o seguinte. O melhor atleta de cada colégio encerrava a prova. Coube-me a honraria. E… Trin- ca de ases! Os colegas que me antecederam abriram larga frente de vantagem sobre os demais, entregando-me o bastão para a arremetida final sem que o cor- redor mais próximo estivesse à vista. Mamão com açúcar. Era só desfilar para a glória. Enquanto esperava, já podia enxergar a pequena multidão que aguardava o final da prova, num palanque na entrada do Colégio. Fantasiei que entregaria o bastão para o Prefeito ou o Secretário de Educação Municipal. O diretor do Colé- gio, vá lá! Nada disso. O melhor atleta entregaria o bastão para a melhor aluna do último ano, Yrani da Silva Sardinha! No início de 1972 a China ficou grávida do Zé Gaiola, casaram-se e ela lar- gou a escola, o vôlei, o sonho da Medicina e tornou-se a melhor esposa que o Zé Gaiola, agora já um alcoólatra em grau avançado, poderia sonhar. E a mãe mais afetuosa e protetora que qualquer filho podia querer. Terminei o colegial no ano seguinte e caí na estrada. Aquele monte de bobagens já relatados, o ingresso em 1976 no curso de medicina que nunca tinha almejado. Voltei a Lorena em janeiro de 77, prestes a iniciar o segundo ano do curso, no ônibus da Viação Cometa, desde a Via Dutra nos seus 186 km de São Paulo até a entrada da cidade e depois na Av. Peixoto de Castro com seus maravilhosos ipês roxos (valeu, Alex!), até a parada na esquina de nossa Rua Dona Lulú Meyer, estava feliz como pinto em bosta. Era a volta do filho pródigo; do conquistador romano da Gália; o que tinha tudo para dar errado tinha dado certo. Antes um olhar para a velha rua. Estariam por ali os vizinhos? Meus antigos colegas? Estariam vendo
- 36. Série José Carlos Sardinha 36 meu retorno triunfal? “…knock, knock on the home’s door…!“. Quem vejo primei- ro? A China. Claudio e Karina, seus filhos. Toquem-se as trombetas, venham todos ver quem voltou! O que você tem lido? Trouxe livros para mim? Discos? Conhece o último da Elis Regina? Belchior? Disseram que você agora é comunista, é verdade? Me explica isso? O que tá acontecendo no Brasil? Como é Manaus? Viu o Joel em Rondônia? Como está o Pedro? A Lindalva? O Marcelinho? A Ana Paula é boni- ta? E a Amazônia. Os rios? As florestas? Já viu índio? Conhece Mercedes Sosa? Quillapayun? Sabe cantar? Ensina? Ainda tá naquela de Revista Planeta e “Eram os deuses astronautas”? Claro que não. Tem algum livro de Medicina na mala? Deixa olhar? Tinha, não que pretendesse estudar nas férias, mas por puro exibi- cionismo besta. Uma antiga edição usada do Bogliollo, de Patologia, disciplina que ainda iria cursar, presente de minha nova amiga Adele Schwartz, aluna do terceiro ano. Tomou-o de minhas mãos como um refugiado da Somália pegaria um prato de feijoada e começou a folheá-lo com sofreguidão. Caiu minha mise- rável ficha! Não passava de um usurpador! Era ela que deveria estar lá, nos ban- cos da faculdade, não eu. Voltei para Manaus, concluí como pude o curso e me meti num monte de coisas. Umas boas, outras más. Casei, descasei, tive um filho homem e o perdi; duas filhas e tento não as perder. Aprendi e ensinei, tento não esquecer o pouco que aprendi. Fui líder estudantil, organizador de partido político, líder sindical e penso ter adquirido algum respeito de meus pares.
- 37. Série José Carlos Sardinha 37 Zé Gaiola morreu rapidamente de cirrose, deixando-a com quatro filhos para cuidar. E ela o fez. Ingressou e levou consigo os filhos para a Igreja das Testemu- nhas de Jeová. Nas poucas vezes que nos encontramos nunca tocou no assun- to, mesmo sabendo que era agnóstico. Ela que diuturnamente, ainda hoje junto com os filhos, bate em portas, disciplinadamente como indicam seus pares de Igreja, em casas alheias para pregar o que acha ser sua verdade. No entanto, sem- pre dava um jeitinho de perguntar de mim, alguma coisa de música, pintura ou literatura. Uma vez me fez garantir-lhe que se algum de seus filhos, algum dia, conseguisse entrar em uma faculdade eu lhe garantiria os estudos. Assegurei-lhe que faria isso com máximo prazer, custasse o que custasse. Queria ser a pon- te entre ela e outro mundo que ela optou por esquecer, mas nada disso jamais aconteceu. Vimo-nos no começo de 2011, tinha dado início à minha tentativa terapêutica de escrever sobre minha infância e adolescência. Queria rever as cores, os cheiros, os sons do passado. Mandei avisar a todos que eu estava chegando. Com antece- dência mandei meus rascunhos por e-mail para minha irmã mais velha, expert em língua portuguesa, que o disseminou entre os demais irmãos e parentes. No fundo buscava um confronto, sei lá o que, contra o que. Acho que meu texto não impressionou muito e deixei-o de lado nos meses seguintes, até hoje. Mas naquela semana vasculhei Piquete, Lorena e adjacências, em busca do meu passado. Encontrei alívio para boa parte de minhas dores. De uma não me livrei: só vi a China na manhã do dia em que, ao meio dia, deveria rumar para o aeroporto de Guarulhos. Tinha me procurado, mas nos desencontramos. Fui em
- 38. Série José Carlos Sardinha 38 sua casa, seu rosto mais deformado que nunca, pouco peso, muitas rugas e um neto novo. Estava sozinha em casa com ele, tudo simples, humilde e arrumado. Perguntou pouco, tocamo-nos, serviu-me café preto e pão com manteiga. Fiquei pouco, quase fugi, vi-a pelo retrovisor do carro. Ela parada no portão me olhando, com a mão direita sobre a mama esquerda e a direita tapando a boca. Chorava, acho.
- 39. Série José Carlos Sardinha 39 GRAMSCI, ZÉ. ZÉ, GRAMSCI. PRAZER! Publicado em 5 de julho de 2016. Ter atuado na organização e execução do Ato Público meia bomba, catapul- tou-me à condição de líder estudantil. Ou algo parecido. Para não arrefecer o pas- so inicial dado, nossos líderes maiores (Rogelio Casado, psiquiatra recém falecido e Humberto Mendonça, que também se tornaria psiquiatra, mas que morreria assassinado na periferia de São Paulo, nos anos oitenta), deliberaram não desati- var a comissão inicial, visando torná-la semente de alguma coisa, que ninguém sabia bem o quê. Resistir à Ditadura, era a palavra de ordem mais ouvida. Gostei do novo status e me joguei de cara. Estudar que era bom, foi ficando assim… de lado. Logo descobri qual era a meta preliminar do grupo. Grupo formado por es- tudantes, agora acrescido de alguns professores, tanto da Faculdade de Medici- na, quanto de Filosofia. Alguns estudantes da área de Agronomia também foram se chegando. Tínhamos que tomar o Diretório Universitário e precisávamos orga- nizar uma chapa para concorrer às eleições que seriam naquele ano de 1977, com posse no início de 78. Mas logo surgiram alguns probleminhas. O primeiro tinha a ver com um tal de Gramsci, do qual eu nunca tinha ouvido falar. Um dos professores participantes do grupo, que se reunia, clandestinamen- te, na casa de outro, era o Dr. Aguirre, psiquiatra e mentor de Rogelio e Humber- to. Conforme nos explicou na primeira reunião que participou, embora tivesse apreço, não concordava com as teorias de Gramsci, que postulavam pela exis-
- 40. Série José Carlos Sardinha 40 tência do intelectual orgânico. Para este teórico italiano do movimento marxista internacional, que escreveu seus livros nas masmorras do fascismo de Mussolini, no estágio que se vivia, rumo à revolução Socialista que estava a caminho, aos in- telectuais caberia um papel organizacional efetivo, no seio do partido revolucio- nário, no meio da massa proletária redentora. Mas ele, o professor Aguirre, não se via nesse papel e achava que seria melhor ficar um pouco distante das coisas do dia a dia do movimento, dando apoio teórico, já que era possuidor de caudaloso cabedal de conhecimentos, no que tangia às obras de Marx, Lênin, Kaustky, Trot- sky, Rosa de Luxemburgo, etc., etc. Fiquei maravilhadamente pasmo com tanta erudição, embora pouco tivesse ouvido falar daqueles distintos senhores. Não sa- bia do que se tratava, mas parecia algo grande. O dono da casa, professor Nelson Fraiji, hoje o principal nome da Hemato- logia em Manaus, contestou vividamente. Derrubar a ditadura não seria obra de teóricos, mas de pessoas engajadas na luta pelo porvir do socialismo e a reden- ção do proletariado, como dizia Gramsci. Precisávamos de combatentes e não livros. Minha cabeça ia de um lado para outro, como quem assiste uma partida de tênis, em Wimbledon. Outros professores, como Marcus Barros (Medicina), Aloí- sio Nogueira e Rozendo (Filosofia) e, principalmente, José Ribamar Bessa Freire o Babá (Comunicação) aparteavam, com argumentos que me pareciam muito bem embasados. Eronildo Braga Bezerra e Raimundo Cardoso de Freitas pela Agronomia, Beto e Rogelio pela Medicina também tentavam opinar. Eu só ouvia, encantado como um colibri na boca de uma cascavel. Puro fascínio. Por fim o prof. Aguirre sacou, de uma bolsa ao tiracolo que levara, dois maçudos volumes do “Capital” (Marx) e fez sua proposta revolucionária. Deveríamos nos compor em um grupo de estudos. Estudar toda a obra de Marx e seus descendentes, antes
- 41. Série José Carlos Sardinha 41 de formularmos um plano de derrubada da Ditadura e consequente tomada do poder. Colocada em discussão, sua proposta foi rejeitada por unanimidade e ele declarou-se fora da luta. Venceu o tal de Gramsci. Voltando para o mundo real, iniciou-se a discussão sobre a tomada do Dire- tório Universitário. Por aqueles tempos, os militares tinham conseguido neutrali- zar completamente os movimentos estudantis que a eles tinham tentado resistir. As maiores lideranças da época estavam presas, mortas, clandestinas ou exiladas. Nomes como Zé Dirceu (É, esse mesmo que v. tá pensando!), Vladimir Palmeira e até o Zé Serra, líderes pré 64, eram só parte da memória. A rede de Centros Aca- dêmicos e Diretório Centrais e a União Nacional dos Estudantes (UNE), tinha sido totalmente esfacelada. Em seu lugar tinham sido criados os Diretório Universitá- rios, um por cada Universidade, vedados os centros por curso, como havia antes. Só podiam candidatar-se à direção estudantil, alunos que preenchessem pré-re- quisitos estabelecidos pelo Regime: boas notas, sem reprovação, assiduidade às bibliotecas e muito civismo. Ser estudante de Direito e de direita contava muitos pontos. Tanto que, havia mais de uma década, todos os presidentes de Diretório no Amazonas, eram estudantes de Direito. O presidente naquele momento era João Bosco Valente e sua chapa se chamava “31 de Março”. Compor uma chapa e elaborar a plataforma eleitoral, eis a tarefa gramscinia- na. Primeiro o presidente. Rogelio e Humberto seriam nomes óbvios, mas esta- vam de partida para residência médica em Psiquiatria, em São Paulo. Militariam nas trincheiras de lá e seriam algo assim como nossos embaixadores às margens do Ypiranga. Tirso tinha mostrado muita coragem e vigor quando do ato público,
- 42. Série José Carlos Sardinha 42 assim com Ethel, sua esposa. Mas também estavam de partida para a sequência da formação médica. Havia o Geraldo Gutemberg, que parecia saber muito sobre Gramsci, Lênin e Stálin. Que odiava Trotsky, para desgosto do Babá. Terceiro ano de medicina. Adoraria a missão. Mas tinha um probleminha. Já era fichado no Dops, por sua militância periférica no Partidão e principalmente pelo fato(uau!!) de que sua esposa Sônia, minha colega de turma, filha de comu- nistas, tinha recém chegado da União Soviética, onde teria estudado um ano de Medicina na Universidade Patrice Lumumba (Tratava-se, à época, de uma Uni- versidade mantida com recursos soviéticos e de Partidos Comunistas de todo o mundo, para formar quadros que iriam disseminar as belezas do socialismo. Nela só cursavam alunos indicados pelas lideranças comunistas afinadas com a URSS.). Ela só teria sido autorizada a voltar ao Brasil e matricular-se na Medicina de Manaus se garantisse que não se envolveria mais com subversão. Eronildo, principal liderança no Campus Universitário também declinou da honra, pois também já seria fichado e poderia perder seu emprego de técnico do laboratório de pesquisa sobre abelhas no Inpa. Não me recordo das desculpas dadas pelo Cardoso. Sobrou para quem? Pois é. Adivinhou. Para o cargo de vice–presidente, Eronildo indicou João Pedro Gonçalves, alu- no de Agronomia. Chegou a ser presidente do Boi Garantido, em Parintins e se- nador da República pelo PT, atualmente é dirigente do PT no Amazonas. Em sua fundamentação, Eron alegou que reconhecia o papel dos alunos de Medicina nos heroicos embates até ali ocorridos, mas que no Campus Universitário a Agrono- mia era liderança inconteste.
- 43. Série José Carlos Sardinha 43 A união Medicina e Agronomia seria imbatível e coisa e loisa. Concordância rápida e já para o dia seguinte eu iria conhecê-lo e iria gostar dele. Cabra bom. Marcou o encontro para que nos conhecêssemos. Se não gostasse poderia repor o assunto em discussão na reunião seguinte. Como dois recém enamorados fala- mos, a sós (isso era muito importante, segundo o Eronildo), sobre as injustiças do mundo, nossos sonhos revolucionários e a derrocada iminente da ditadura, tão logo uníssemos nossas forças estudantis com o proletariado vilipendiado. Mas, o noivado não prosseguiu. O João tinha reprovações em seu currículo e baixa assi- duidade à biblioteca. Não preenchia os requisitos mínimos que as regras do Re- gime impunham e ainda não tínhamos forças suficientes para mudá-las, o que só conseguiríamos no ano seguinte. O que Eron juntou, a Ditadura separou. No berço. Na reunião seguinte apro- vou-se o nome de Paulo Segadilha França, estudante de Comunicação e já dono de uma coluna diária no principal jornal da cidade (A Crítica). Com ele marchei para a vitória, histórica me permita dizer, e única em minha vida, pois nunca mais me candidatei a nada. Nem pra síndico. Mas isso é outra história.
- 44. Série José Carlos Sardinha 44 FOGOIEIRA DAS VERDADES (1) Publicado em 12 de julho de 2016. Cerca de 19hs do dia 19 de maio de 1977, na modesta república na Av. Ayrão, ao lado da faculdade de Medicina, em Manaus. Eu (paulista), Dimas (mineiro), Chafi e Manoel Felício (goianos), aguardávamos que o Álvaro Amande (manaua- ra, hoje cardiologista de referência destas plagas) viesse nos apanhar em sua Kombi bege e levar-nos para o aniversário da Sigrid, colega de turma no segundo ano. Não me esqueci da data, jamais, por três essenciais razões que listo a seguir: Dia Nacional do Índio, aniversário de meu amigo/irmão Antônio Pedro Mendes Schettini e segundo Dia Nacional de Luta do renascente Movimento Estudantil contra a Ditadura Militar, que iniciava seus estertores. Aquele tinha sido um sábado tenso. O Flamengo (de Zico, Adílio e Adão) ti- nha dado mais uma goleada em algum outro carioca e estava começando a pri- meira parte do capítulo diário da novela global” Dancing days”. Até aí tudo muito normal, corriqueiro. Pesada e atípica tinha sido a manhã. Contrariamente aos sá- bados anteriores, nós três não tínhamos tomado o ônibus ou carona com algum colega mais privilegiado e ido tomar banho na praia da Ponta Negra. Tínhamos ido tomar parte em um ato público de protesto estudantil, contra a ditadura, no recém-inaugurado Campus Universitário. O primeiro de minha vida, convocado nacionalmente por uma autointitulada Comissão Nacional para a Reconstrução da União Nacional dos Estudantes (UNE), que tinha sido destruída e jogada na clandestinidade pelos militares. Eu era o representante de nossa turma na comis- são de estudantes que organizou e executou o Ato, em sua versão manauara. Os
- 45. Série José Carlos Sardinha 45 outros três me acompanharam sem muito entusiasmo, mais por solidariedade a mim do que por ideologia. Explicando melhor, eu jamais tinha me envolvido com qualquer tipo de ati- vismo político até então. Também não era um alienado total. Amava os Beatles e os Rolling Stones, Chico Buarque e Geraldo Vandré. Adorava História e gostava de dar palpites nos intervalos das aulas sobre temas polêmicos. O que gerava algu- ma antipatia, principalmente entre colegas amazonenses. Ligeiramente gauche. Meio intelectual, meio de esquerda. Mais fanfarrão do que consequente. Acho que por conta disso, um colega amazonense que não se engraçava muito com meus pitacos múltiplos, mas que hoje é um grande amigo, quando da pequena assembleia para indicar o representante da turma na comissão organizadora do Ato, apontou-me. Tipo “vai Taffarel, pega que é sua!”. Não teve jeito, peguei. Meus três colegas de república tentaram me demover, dizendo que era uma fria, tinha o famigerado decreto 477, ferramenta da ditadura para combater a resistência no meio universitário. Por qualquer coisa mínima podia-se ser expulso. Depois era o caos. Estudar de novo ou até mesmo um emprego público, ficariam dificílimos. O que eu ia dizer lá em casa? Em uma semana visitamos literalmente todas, todas, as salas de aula da Uni- versidade, que à época tinha cerca de 2.500 (dois mil e quinhentos) alunos (pre- ciso descobrir porque meu Professor Sinésio Talhari abomina a expressão “cerca de”!). Universidade micro para os padrões de hoje. Vívido em minha memória o clima hostil nas turmas de Direito noturno. Muitos alunos ali eram alunos po- liciais, outros policiais alunos. Mobilização quase impossível. Mas encaramos e
- 46. Série José Carlos Sardinha 46 conseguimos levar para o gramado do campo de futebol do Campus algumas dezenas de estudantes. Corajosos, ousados ou irresponsáveis. Muito medo. Não passava um fio de cabelo. Todo o Campus cercado de viaturas, tanto da polícia comum, como do Exército. Facilmente identificáveis, circulavam entre nós “es- tudantes” com mais de trinta anos. Bolsa de couro ao tiracolo, jeitão simpático de irmão mais velho. Policiais federais infiltrados. Típicos. Quase parte normal da paisagem humana do meio universitário daquele período da história de nossa Pátria Mãe tão distraída. O Ato em si foi quase um anticlímax. Com toda a imprensa local a postos para documentar o embate, suávamos em bica quando o reitor veio ao nosso encontro no meio do gramado, para receber nossas reivindicações. Ele estava tão ou mais nervoso que nós. Aluno da Escola Superior de Guerra, pós-graduação que a ditadura exigia de todo professor que almejasse fazer carreira na Universi- dade brasileira. Não podia desapontar os milicos. Nós não podíamos desapontar nossos seguidores e, principalmente, os que de nós duvidavam. Cagaço empa- tado, tratamos de ler nossa lista de queixumes, que versava sobre melhorias nas instalações, bibliotecas, laboratório, contratação de professores, etc. Nem um ai sobre a “Redentora”. Ficou nítido o seu alívio e foi cordato, simpático até. Disse que ia reunir o Conselho Universitário e analisar tudo com carinho. Paizão. Todos de volta pra casa. Peito estufado. Ouçam e vejam demais estudante do Brasil: um filho teu não foge à luta! Agora almoçar um X-burguer, X-egg, X- qualquer coisa e uma garrafinha de guaraná Baré, que ninguém é de ferro. À tar- de futebol no sítio do pai do Álvaro (Estádio El Lamazal) e à noite umas cervejas
- 47. Série José Carlos Sardinha 47 no aniversário da Sigrid e possivelmente sermos bajulados por nossa intrepidez e heroísmo matinal. Testosterona juvenil a explodir. Mas eis que surgiu um proble- ma quase inesperado para turvar nosso sábado perfeito. O Fogoió! Tínhamos nos esquecido dele. Naquele momento ele representava a única entidade no Univer- so que podia fazer baixar nossa bola. Droga! Estudante do quinto ano. Goiano. Macho alfa por excelência. Artista da arru- aça. Bebia feito um gambá (de onde será que surgiu essa expressão? Tenho que perguntar ao Weimar, que tem uma Enciclopédia que trata sobre essas coisas!). Alto e muito forte, brigava como poucas vezes vi na vida. (segundo o Tirso Rodri- gues Alves, insigne urologista e poker man fifth-fifth, seu colega de turma, teria uma vez levado um pau do Zé Miúdo, hoje cirurgião vascular.Mas acho que não conta, pois estaria morto de bêbado!). Era o desaforo em pessoa. Entrava e saía de todas as repúblicas como se casa sua fosse. Tínhamos que esconder os comes e bebes menos triviais quando ele apontava na esquina. Andar em sua companhia então, nem pensar. Era encrenca braba na certa. Ser seu inimigo então…! Tinha um faro canino para festas e detonava em todas. Problema posto. Como iríamos ao aniversário da Sigrid sem que ele fosse junto? Estava sentado na porta da entrada da república nos esperando. Nem quis saber do Ato Público e foi logo perguntando em que festa iríamos à noite. Cara séria e olhar inquisitivo tipo “não mintam pro papai!”. Pegos com a boca na botija, tentamos disfarçar, enrolar. Sabia do aniversário. Dimas tentou ser esperto dizen- do que não nos dávamos bem com a Sigrid. Era de outra turma. Um pessoal xa- rope. Na verdade, naquela noite nem iríamos sair juntos. Cada um pra um canto
- 48. Série José Carlos Sardinha 48 diferente. Eu vou pra casa da Dalva, minha namorada. O Zé vai fazer uma dessas reuniões chatas com seus amigos subversivos. Se souber de alguma coisa te dou um toque. Ninguém achou que ele tivesse acreditado e tentamos nos preparar para o pior. A Sigrid morava na última casa de uma vila na rua dos Barés, centro antigo de Manaus. Era uma série de 6 ou 8 casas geminadas, com um corredor estreito para onde davam todas as entradas e terminava no muro da Faculdade de Direi- to. A poucos metros da Praça dos Remédios e Igreja homônima. Quando chega- mos o grosso dos convidados ocupavam uma série contínua de mesas dispostas no tal corredor de acesso. Na segunda ou terceira mesa o Reitor, professor Doutor Hamilton Botelho Mourão, que posteriormente seria defenestrado por um movi- mento (o primeiro acho) dos professores, liderado pelos meus ídolos, professores Marcus Barros e Ribamar Bessa. Passamos pela mesa dele sem nem olhar pro lado e adentramos à casa, esquecidos da maldade do mundo. Lá pelas tantas um burburinho crescente se formou. Vozes alteradas, mas- culinas e principalmente femininas vinham do corredor e o Fogoió irrompe na sala guinchando a mãe da Sigrid grudada em sua camisa, tentando expulsá-lo aos berros. Fora de minha casa, seu louco, vagabundo! Arruaceiro! Ninguém lhe chamou aqui! Vou chamar a polícia para expulsá-lo! Vir à minha casa sem ser convidado e ainda ter o desplante de ofender meus convidados! Fora! Instintiva- mente tentamos nos agrupar num cantinho mais discreto da sala. Que ele não nos visse. Impávido colosso, seus olhos, verdes como as turmalinas de Goiás, incri- velmente mansos para o instante que passava, nos encontrou de imediato, abriu
- 49. Série José Carlos Sardinha 49 um sorriso vitorioso e troou: “E aí, meninos? Demorei?”. De heróis matinais para vilões noturnos num zás. Sigrid nos fuzilava com seu olhar e exigiu que nos res- ponsabilizássemos pela retirada do intruso. E, claro, podíamos aproveitar o emba- lo e irmos juntos. O que, não lembro como, acabamos fazendo. Na rua, candidamente, nos relatou que quando entrou no corredor e viu o Reitor, na única mesa que tinha uma garrafa de whisky, pediu licença, pegou uma dose e disse pro Magnífico: “Aí, né? Seu filho da puta! Enchendo o cú de ca- nal e a merda da Faculdade sem professor, hospital e biblioteca, pros meninos aprenderem. Um dia você ainda vai se foder!”. E foi pra festa. “Tô errado, Zé?” “Não era pra isso que vocês armaram esse barulhão todo hoje de manhã?”.
- 50. Série José Carlos Sardinha 50 FOGOIEIRA DAS VERDADES (2) Publicado em 19 de julho de 2016. Creio que a primeira vez que o vi foi, talvez, na segunda semana de cur- so, apontado por um amigo recente. Segundo Dimas, que morava na república em que eu moraria a partir do segundo ano, teriam recebido sua visita e cartão de apresentação, no dia anterior. Estariam os cinco: Dimas, Chafi, Manoel Felício, Eurico e Augusto, todos goianos, menos Dimas, reunidos na sala de estar da re- pública, quando, sem convite ou cerimônia, ele adentrou. Se aboletou e foi logo perguntando quem era quem, de onde eram, etc. Talvez para ser simpático um deles teria lhe pedido para olhar o livro de medicina que trazia consigo. Ao que respondeu prontamente que não. “Pra quê? Não tem figuras.” Acho que de alguma maneira nos adotou ou talvez fosse assim com todo mundo. Adotava um estilo protetor, gostava de nos aconselhar sobre como deve- ríamos nos portar, problemas que pudéssemos eventualmente enfrentar. Não fa- lava muito sobre si mesmo. Mas logo começamos a ouvir as histórias pregressas, que eram saborosíssimas. Provavelmente todo estudante de medicina daquela época sabe, participou, ouviu falar ou inventa alguma coisa com ele. Ainda hoje, em alguma mesa de bar, ainda ouço alguma que não conhecia. Verdadeiro mito urbano. Seu primeiro nome era Lourival, o sobrenome (irrelevante) eu esqueci, mas tem lá nos arquivos da Universidade. Goiano, seu pai era um fazendeiro que o bancava integralmente. Não precisava trabalhar, como eu e muitos outros, dan- do aulas em cursinhos ou coisa semelhante.
- 51. Série José Carlos Sardinha 51 Era alto e extremamente forte. Olhos verdes e cabelos encarapinhados cor de fogo, daí, suponho, o apelido que o eternizou: Fogoió. Logo no primeiro semes- tre de seu primeiro período na faculdade, talvez 71, teria feito algo impensável para aquele momento. Auge da ditadura militar, governo Médici. Muitos profes- sores eram médicos militares e, destes, um em particular, era péssimo e lecionava Anatomia. Lecionava é um jeito tolerante de descrever sua práxis letiva. A aula era das mais longas do currículo, cerca de 3 horas. Levava mais de meia hora fazendo chamada, nome por nome, buscava identificar algum sobrenome que lhe pare- cia ser familiar ou de alguma família importante. Quando não tinha mais como enrolar começava a aula propriamente dita, que consistia na leitura enfadonha de um velho livro texto (Testut-Latarget). Não deu outra. No dia da primeira prova escrita eis que o Fogoió, após receber a prova, tirou debaixo da carteira o mesmo livro e começou a pesquisar as respostas placidamente. Alvoroço quando o pro- fessor quis tomar-lhe a prova e dar zero, por cola. Saiu-se com essa pérola: “Ué! Se você dá aula lendo o livro, por que eu não posso fazer a prova lendo o livro como você? Eu também não sei anatomia, como você.” Em outro momento, durante uma aula prática de cirurgia abdominal, nu- mas das pequenas salas do Centro Cirúrgico do Hospital Getúlio Vargas, deu outra demonstração de seu senso prático. Professor Molinari, com mais de cem quilos de peso, operando e explicando para a turma o que estava fazendo. Sala lo- tada e Fogoió encostado numa parede sem nada ver, pois outros alunos estavam à sua frente. Teria então tomado o cirurgião pela cintura, removido-o para o lado, dizendo: “deixa eu ver essa porra aí!”.
- 52. Série José Carlos Sardinha 52 Garanhão por excelência, não fazia muitas escolhas. Todas as empregadas domésticas das repúblicas, vizinhas, solteiras ou casadas, nada o bloqueava. Mas parece que tinha um limite mínimo. Como me explicou, não se envolvia com estudantes de medicina ou moças de família da terra. Temia ser envolvido num casamento indesejável. Foi como me aconselhou quando iniciei o namoro com aquela que viria a ser minha esposa. “Zezão, Manaus é o paraíso pra pegar mu- lher.” Quando você voltar pra tua terra você acha uma menina lá e casa. Não pre- cisa se enrolar aqui.” Poucos de nós teriam coragem de aceitar os sucessivos convites que nos fazia para sairmos em sua companhia. Temíamos nos metermos em confusão. Claudio, que era dos poucos que tinha carro e era frequentador da república, um dia saiu com ele. De madrugada batidas fortes na porta da sala. Os dois beba- daços nos acordam chamando-nos para retirar uma carga de dentro do fusca. Tinham ido parar num bar, famoso à época, chamado Barrica, na Av. Duque de Caxias. Tinha esse nome por ser totalmente decorado com móveis, mesas, cadei- ras e balcão feitos de barricas. Eles tinham roubado uma mesa e várias cadeiras do bar e trazido para nós. Ele achava que necessitávamos delas, pois quase não tínhamos móveis. Ter aqueles móveis na sala seria algo como roubar a Torre Eiffel e colocá-la no jardim, como enfeite. Ainda assim, por vários anos, aqueles móveis ficaram na república e devem ter sido herdados pelas gerações posteriores de alunos que lá moraram. Um dia roubou uma galinha e a levou, viva, para uma das repúblicas que fre- quentava. Lá chegando jogou-a no colo do Zé Gonçalves, outro estudante de Goi- ás. Este, sentindo-se ofendido ou por qualquer outra razão, de imediato jogou-a
- 53. Série José Carlos Sardinha 53 fora, pela janela do sobrado. Enfurecido pela desfeita, Fogoió agarra Zé Gonçalves e o carrega em direção à mesma janela para jogá-lo fora. Não fosse alguém ter chegado e se atracado, Zé Gonçalves não teria suportado ficar agarrado por mais tempo, nos batentes da janela do sobrado. Gostava de cirurgia e parece que era muito bom nisso. Talvez seja exage- ro, mas ouvi dizer que quando estava bêbado operava melhor ainda. Quando se diplomou, parece-me, foi convocado para o Exército, Batalhão de fronteira em Cucuí. Contou-me numa tarde (1979), quando eu estava só na república. Todos tinham viajado de férias para seus respectivos estados. Tinha acabado de ser li- berado de um período de detenção e aguardava a conclusão de um inquérito policial militar. Chegou logo perguntando se eu dispunha de algum baseado, pois andava carente, mas que uma cachaçinha ou cerveja no bar da Tia Maria – ao lado- serviam também. Estava sem dinheiro nenhum. Jogamos bilharito e con- versa fora. Sua vida militar tinha durado só alguns meses. Tinha arranjado uma encrenca com um capitão médico, logo ao chegar lá. Por qualquer razão, este capitão tinha humilhado um soldado ou sargento, que era seu chapa. Seduziu a mulher do capitão, mas não fez nada, queria gerar um motivo para que o capitão o confrontasse. Só que o tal capitão não se mexeu. Passadas algumas semanas encontrou o capitão e sua família, junto com outros oficiais, no clube militar. Sem pestanejar foi agarrando-o pelo colarinho, dizendo: “Seu corno, filho da puta! Tô pegando sua mulher e você. não faz nada? Merece levar porrada.” E deu. Xilindró.
- 54. Série José Carlos Sardinha 54 A gota d’água veio alguns meses depois. O Batalhão recebeu a visita do Ge- neral, chefe do Serviço Nacional de Saúde. Inspecionava os serviços médicos dos batalhões de fronteira. Solenidades de praxe. Todos em forma. Banda de música. Elogios para aqueles guerreiros intrépidos defensores da integridade territorial do Brasil, os perigos da subversão comunista e etc. Em sua fala o comandan- te do batalhão enumerou as consultas e cirurgias que realizavam e as benesses que propiciavam para os brasileiros daquele rincão, esquecido por Deus, mas não pelo glorioso E.B. “É mentira!” Grita o Fogoió saindo de forma e dirigindo-se ao palanque. “Não acredite nisso, não, Seo General. Tudo cascata. Aqui não tem re- médios, material para cirurgia. Só parente de oficial é que é atendido. E assim mesmo muito mal. Só tem safado”. Imediatamente preso e encaminhado para o hospital de Manaus, para avaliação psiquiátrica, com recomendação para expul- são. Os psiquiatras o consideraram normal. Ficou preso numa cela especial, no Hospital militar de Manaus. Para o gáu- dio de seus colegas ou dos que dele tinham ouvido falar. Todos queriam vê-lo ou bater um papo, levar-lhe um fuminho ou uma cachacinha, às escondidas. Até companhia feminina. Por tudo isso, talvez, o General Comandante da Décima Segunda Região Militar, posto militar máximo de nossa região, quis conhecê-lo. Ordenou que fosse levado à sua presença. Em seu gabinete recebeu-o e, todo paizão, foi lhe perguntando: “Me conte, meu filho. Não me esconda nada. O que se passa nessa sua cabeça?”. Ao que o Fogoió respondeu: “Pois não Seo Gene- ral. O Sr. sabe, né, que o lobo frontal direito responde pelos padrões e relações abstratas, enquanto o esquerdo tem maior habilidade para análise lógica?” Não, meu filho, não sei não?” E sobre o mesencéfalo, a ponte, a medula oblonga, o Sr.
- 55. Série José Carlos Sardinha 55 sabe alguma coisa?”. “Não meu filho!”. “Então, porra, pra que pergunta? Não vai entender nada mesmo!” Incontinente, o General tomou do telefone e fez uma ligação, que o Fogoió não conseguiu ouvir. Voltou-se para ele e comunicou: “Aca- bei de mandar te soltar. Você não tem jeito. Nem o exército pode contigo. Vá pra casa e aguarde. Faremos contato.” Sem dinheiro, foi a pé, do quartel na Ponta Negra até a Av. Ayrão. Tentou outras repúblicas, mas ninguém encontrou. Apos- tamos cerveja e ele levou uma parte significativa dos trocados que eu guardava para passar o resto do mês. Nunca mais o vi. Soube que morreu de infarto alguns anos depois. Seu pai tinha lhe comprado um hospital ou coisa assemelhada. Teria mantido o mes- mo. Correu um boato de que tinha sido assassinado por algum marido chifrado, mas isso não foi confirmado. Como meus ídolos Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrisson e Elis Regina, tudo uma questão de álcool, sexo, droga e rock’ roll, ou, melhor dizendo, bolero e música brega. Quando me lembro dele fico menos materialista do que o habitual, chego a pensar que seu espírito tá por aí aprontando alguma. Alguma cheia de verdade. Saravá, Fogoió!
- 56. Série José Carlos Sardinha 56 MEU PAI JÚLIO Publicado em 30 de agosto de 2016. Meu pai se chamava Júlio. Nasceu na cidade de Cruzeiro –São Paulo –no dia de finados de 1902, morreu no dia das mães de 1974. Viveu a infância, adolescên- cia e parte de sua vida adulta na área rural. Antes de ser operário na fábrica de pólvora, foi tropeiro, condutor de tropas de burro, sem veículos a motor. Até um bom pedaço do século vinte, cargas eram deslocadas em dorso de burros. Assim, meu pai, até os 25 anos, se ocupava basicamente de conduzir esse tipo de tropa, entre Piquete e as matas do alto da Serra da Mantiqueira, no processo de abaste- cer a “fábrica”, de lenha, então o principal combustível da empresa. Era religioso, sem ser carola. Mandava-nos à missa, mas não gostava de ir a igrejas. Aprendeu a ler sem frequentar escolas. Assinava o nome, sabia aritmética básica, calculava áreas e volumes. Segundo relatos dos meus irmãos mais velhos, sabia até um pouco de química. Na juventude teria dançado e parece que chegou a arranhar viola caipira e violão. Acho que nunca praticou esportes. Adorava jogar “truco” (tipo de carteado, muito comum no interior do Sudeste, Sul e mesmo Centro-O- este) e, simultaneamente tomar uma pinguinha. Mas nunca foi alcoólatra. Depois de aposentado, assisti e compartilhei com ele do jogo de “malha”. Depois de apo- sentado aprendeu também a jogar “buraco”. Via-o praticamente só de noite, quando antes de se aposentar. Algumas ve- zes – muito poucas – o vi no seu trabalho. Esteve na linha de produção da fábri- ca por algum tempo, mas sofreu um grave acidente, creio que na década de 40, quando tentava abrir a tampa de um vagão de trem abarrotado de ácido
- 57. Série José Carlos Sardinha 57 sulfúrico, que talvez estivesse sob pressão. Uma explosão o encobriu com aque- la substância, queimaduras profundas se espalharam por todo o corpo. Para se recuperar ficou vários meses internado no Rio de Janeiro. Parece que ao voltar para Piquete passou a atuar em atividades de apoio, em cavalariças (dizíamos “baias”) e no cabo de enxada. Contou-me que em alguns momentos, sua situa- ção econômica era tão precária que dispunha de apenas uma camisa. Ao chegar no trabalho tirava-a, pendurava-a e trabalhava até o entardecer desnudo, para não a gastar ou ter que ser lavada e secada, à noite. Seus proventos, creio, jamais superaram a três salários mínimos da época. Conheceu minha mãe no decorrer da Revolução Constitucionalista de 1932. Como é amplamente conhecido, aquele glorioso ano do Senhor, a oligarquia ca- feeiro-industrial paulista rebelou-se contra o governo de Getúlio Vargas. Pela ver- são paulista (que aprendi primeiro!), Getúlio queria governar sem uma Constitui- ção, com poderes ditatoriais, o que os paulistas jamais poderiam admitir, pois o inverso seria conspurcar a gloriosa tradição dos bandeirantes. Já o resto do Brasil achava diferente, pois era necessário acabar com os privilégios de São Paulo, cujo poderio econômico (como hoje) o tornava sobrepujante sobre o resto do país. O fato é que o pau quebrou, forças oriundas de todo o Brasil, convergiram sobre São Paulo, que rapidinho pediu arrego. O Vale do Paraíba foi um dos mais importantes trajetos das tropas federais vitoriosas, sem contar que a “fábrica” tinha importantíssimo valor estratégico. Não conheci meus avós.
- 58. Série José Carlos Sardinha 58 BENEDITA, MINHA MÃE Publicado em 06 de setembro de 2016. Segundo relatou meu pai, Piquete tornou-se deserta da noite para o dia, com a proximidade das tropas federais. Contrariando (de novo!) a opinião geral, que recomendava a fuga, ele (solteiro) e mais uma única família resolveram ficar e ver no que daria tudo aquilo. Esta família tocava uma pensão e meu pai parece ter ficado amigo do dono (senhor Acácio). Não sei se para ter facilidades relativas à sua dieta em tempos de guerra ou porque se enamorou perdidamente da co- zinheirinha da pensão, Benedita, uma menina de 16 anos de idade, que viria a ser minha mãe. O amor nos tempos de guerra sempre me pareceu um tema a me- recer uma abordagem investigativa mais ampla e profunda. Coisa para Humber- to Eco, em parceria com Gabriel Garcia Marques, sob supervisão de Guimarães Rosa, no mínimo. Minha mãe era, antes de tudo, uma cuidadora. Cuidou de meu pai, cuidou de nós, cuidou da casa, da horta e dos bichos. Exigia de todos nós absoluto acata- mento às deliberações de nosso pai. Nunca a vi levantar a voz. Raramente adoe- cia. Mas sabia um monte de chás, que preparava para combater os mais diferen- tes males que acometiam a prole. Cozinhou, lavou e passou para 14 pessoas por décadas a fio. Nunca a vi reclamar de nada. Tudo estava conforme a vontade de Deus. Nunca a vi manifestar mais apreço por um filho em detrimento de outro. Aliás, éramos tão iguais aos seus olhos que, frequentemente, trocava nossos no- mes. Assim, quando queria ME chamar, por exemplo, saía na porta da cozinha e gritava os 4 ou 5 primeiros nomes (ou apelidos, o meu era Zeca) que lhe vinham na cabeça. Ao se apresentarem todos, ela pinçava o que queria.
- 59. Série José Carlos Sardinha 59 Minha mãe jamais soube ler ou escrever, seu universo era o da pia, do tan- que, fogão, vassouras e varais. Sei que me contou estórias para que adormecesse, mas miseravelmente não consigo me recordar de nenhuma delas. Cantava, prin- cipalmente músicas sertanejas que ouvia no rádio. Recordo-me, sabe-se lá por- quê, de “Maringá” e “Chuá Chuá” de Joubert de Carvalho. Os clássicos paraguaios “Índia” e “Ypacaraí”, nas versões em português por “Cascatinha e Nhana”. Vicente Celestino com “O ébrio “e “Coração Materno”. Também compunha seu repertório: Inezita Barroso (…” nesta casa tem goteira, pinga ni mim, pinga ni mim…”), Catulo da Paixão Cearense (“Eu nasci naquela serra num ranchinho beira-chão…”), Luís Gonzaga (“Quando olhei a terra ardendo…”) e até uma americana com Paul Anka, que cantava assim: “ô quérol, lá,lá,lá ,lá,lá a lá!”) chegaram por primeiro aos meus ouvidos por sua voz. Foge-me à lembrança tê-la visto dançar, diferente de meu pai que era um verdadeiro pé de valsa. Às vezes me pergunto “…the answer my friend, is blowing in the wind” se a minha insuperável incompetência para qual- quer modalidade de dança, freudianamente interpretando, estaria relacionada com estes meus antecedentes.
- 60. Série José Carlos Sardinha 60 AS PERGUNTAS QUE NÃO FIZ, AS RESPOSTAS QUE NÃO TIVE Publicado em 13 de setembro de 2016. À bem da verdade, ao longo do tempo, acabei sabendo mais coisas da vida de meu pai do que da de minha mãe. E como isso dói hoje! Que falta me faz as repostas às perguntas que não fiz! Contrariando a canção de Bob Dylan, o vento nunca quis me soprar as respostas. Se pudesse voltar no tempo ou encontrá-la de novo em outra dimensão ou universo paralelo, deitar minha cabeça no seu colo e desembestar a fazer perguntas, começaria querendo saber de sua infância. Hou- ve uma? Ou, a exemplo de milhares de filhas de famílias pobres daquela época (e de hoje, ainda, infelizmente!), cedo teve que se tornar uma serva em residência estranha à de seus pais. Sem bonecas ou cantigas de roda. Sem pega-pega ou comidinhas de barro. Em seus lugares, vassoura, esfregão, sabão em pedra e bar- riga no tanque de lavar roupas. Limpar a imundície dos outros, preparar a comida deles, prosseguir pelo resto da vida fazendo as mesmas coisas que fazia na casa do Acácio, só que agora para seu marido e seus próprios filhos. Foi uma forma de progressão? O desvelo incansável e permanente com que nos brindou era sua resposta ao servilismo medieval de sua infância e adolescência? Como era tratada pelo patrão e os seus? Teria sido desrespeitada por algum deles ou seus clientes? Sonhava? Com o quê? Tinha algum interlocutor? Um ombro amigo? Sei que para várias de minhas perguntas ela daria a sua resposta caracte- rística: -“Ara! Deixa di cunversa besta, muleque!”. Mas acabaria contando tudo, nos mínimos detalhes. Contar-me-ia como foi com o Júlio; o clima na pensão; os habitantes da cidade e os clientes fugindo apavorados pela proximidade da
- 61. Série José Carlos Sardinha 61 batalha que não houve. Teria o Acácio dado a ela a opção da fuga? Ou nem foi consultada? Teve medo da guerra? Como foi a aproximação com aquele tropeiro entroncado, de cabelos negros penteados para trás que também não quis fugir? Falava-lhe das vantagens que ele tinha? Teria lhe prometido proteção? Teria aí vislumbrado a possibilidade de libertar-se do Acácio? Houve namoro? Noivado? Casamento de papel passado, com vestido branco, véu e flores na capela? O que sentiu quando adentrou pela primeira vez uma casa que, enfim, podia dizer ser sua? Como era a casa? Que cheiros? Que cores? Certamente respeitaria seu pudor e não tocaria nos detalhes picantes da primeira noite. Mas… teriam sido picantes?
- 62. Série José Carlos Sardinha 62 O CREPÚSCULO DE JÚLIO E BENEDITA Publicado em 20 de setembro de 2016. Meu pai morreu na madrugada do dia das mães de 1974, aos 72 anos. Dos dez anos que ainda viveu pós aposentar-se da “fábrica”, curtiu talvez quatro. Os seis seguintes foram despendidos em numerosas batalhas contra diferentes do- enças, até que um aneurisma de aorta abdominal completou o serviço. Em seus poucos anos saudáveis ainda pegou no cabo da enxada, mas agora quase que por diversão, no sítio que meu irmão mais velho tinha adquirido, às margens da rodovia que une Lorena à Piquete. Demolindo cupinzeiros, preparando o solo para um laranjal que nunca vingou. Pescou no Paraíba, de barranco e de tarrafa. Um dia, pescando com meu irmão mais velho, caiu acidentalmente na corren- teza do rio. Não sabia nadar. Mas, como relatou várias vezes depois, prazerosa e orgulhosamente, antes que chegasse ao fundo do rio, o Vandinho (meu heroico irmão mais velho), “já estava lá me esperando pra me salvar!”. Aprendeu a jogar buraco, não antes de ensinar a todos nós a jogar truco. Creio que jogava bem ambos, mas penso que por não ser malicioso (“virtude” mais que necessária em qualquer jogo de cartas!) perdia com certa regularidade partidas que supunha ganhas. E isso o irritava profundamente. Quando detectava indícios ou mesmo fraudes (“roubo”, como dizíamos) no jogo, ia à loucura. Esculhambava até as pró- ximas dez gerações do perpetrador. Não importava quem fosse, quem mais esti- vesse à mesa ou nas proximidades. Todos ouvíamos em silêncio reverencial. A revolução nos costumes iniciada naquela metade dos anos sessenta en- controu nele um forte opositor. Cabelos compridos para os homens, saias curtís-
- 63. Série José Carlos Sardinha 63 simas para as mulheres; músicas gritantes; danças eróticas; falta de respeito pelos mais velhos. Mulheres seminuas nas revistas e no cinema, simplesmente odiava. Fidel Castro e Che Guevara; João Goulart e Brizola; Lamarca. Os subversivos que queriam entregar o Brasil para a Rússia. Lia o “Estadão” todos os dias. Assina- tura que o marido de minha irmã mais velha tinha feito para ele. Acompanhou diuturnamente a guerra do Vietnã e o que mais se passava na política mundial. Rejubilou-se com a morte de Che Guevara nas selvas bolivianas e a de Edson Luís no restaurante “Calabouço”, no Rio de Janeiro. Embora tivesse assistido, ao nos- so lado, na TV em branco e preto, direto, a descida de Armstrong na Lua, jamais acreditou que isso, de fato, tivesse ocorrido. Pensava tratar-se de empulhação dos americanos. Acho que foi a única coisa feita pelos americanos que discordou. Amava-os simplesmente. Desejava ardentemente que seus heróis, um dia, des- truíssem (“reduzidos a pó de traque!”), com uma chuva de bombas atômicas, o Império do Mal, conhecido por Rússia. Meu pai era um aglutinador. Com sua morte, pensei: os irmãos iriam se dis- persar. Até então, mesmo os que já viviam em outras cidades ou Estados, ao me- nos uma vez por ano, compareciam para vê-lo. E nos víamos. Seria minha mãe capaz de sustentar a magia? Surpreendentemente ela o fez. E mais! Tornou-se mais sociável. Tomou gosto por viajar, visitando os filhos e netos que viviam mais distantes. Viajou de avião e fez boa figura em alguns eventos chiques. Vi-a pouco nesta sua nova encadernação, mas dei uma pequena contribuição. Por muitos anos ouvia-a dizer que gostaria de ter um vestido de veludo cotelê verde, mas naqueles primeiros tempos (bem bicudos!) isso era um luxo impensável. Assim, quando tive meu primeiro trabalho assalariado (na construção civil), aos 18 anos,
- 64. Série José Carlos Sardinha 64 usei um bom pedaço de meu primeiro pagamento e lhe comprei uma peça do referido tecido, que virou o sonhado vestido. Visitou-me em Manaus, no início dos anos 80 e conheceu meu filho. Teve-o no colo e deve ter-lhe soprado doçuras. Morreu em janeiro de 1983. Estava em coma diabético desde dezembro. Pouca utilidade teve o diploma de médico que a Universidade do Amazonas me tinha outorgado dias antes.
- 65. Série José Carlos Sardinha 65 A VIDA EM LORENA Publicado em 04 de outubro de 2016. Mudamo-nos para Lorena em 17 de dezembro de 1964. Não sei por que ja- mais esqueci a data. Meu pai feliz, casa própria e uma aposentadoria para gozar. Casa simples, mas mais espaçosa e com uma fachada modernosa. Recordo-me da particular satisfação de meu pai com alguns detalhes da casa. Primeiro um grande reservatório de água subterrâneo e todo de cimento armado, com capa- cidade para estocar cerca de 10.000 litros, que vinham da rede pública. Acoplado a ele uma bomba elétrica, que automaticamente era acionada sempre que o nível da caixa d’água no forro da casa chegava a um determinado nível crítico. Gostou muito, também, de um corredor coberto, na lateral da casa, onde chum- bou um par de ganchos de ferro para estender sua rede. Logo botou olho gordo no terreno baldio ao lado da casa, onde, sem qualquer oposição do proprietário, limpou-o, revolveu a terra e adubou-a com bosta de vaca e semeou várias leiras de hortaliças. Todos o ajudamos nesta faina. Eu e meu irmão imediatamente aci- ma, tínhamos a nobre missão de recolher a bosta seca, de vaca, nos pastos mais próximos. A rua se chamava inicialmente “General Zenóbio da Costa”, sendo depois renomeada “Dona Lulu Meyer”. O General eu sei quem foi. Um dos comandantes da gloriosa Força Expedicionária Brasileira, nos campos de batalha na Itália, na segunda Guerra Mundial. Já a dona Lulu, jamais descobri o que fez de relevante para a coletividade lorenense, ou que bobagem teria feito o general para ser des- tituído. O certo é que a rua paralela foi simultaneamente renomeada “Dona Maria
- 66. Série José Carlos Sardinha 66 Meyer”. Não conheci nenhuma rua “José Meyer” ou “João Meyer”. O que compro- va a minha total ignorância quanto aos méritos dessa nobre família. Podia-se ir deambulando, em dez minutos, até o centro da cidade e, em dez, para a periferia mais externa da área urbana. Embora nossa vizinhança fosse modesta como nós, nossa rua interligava dois dos mais requintados endereços da cidade: as avenidas Peixoto de Castro e a Godoy Netto. Puro espanto ao meu primeiro olhar para o luxo de algumas residências daí. Em Piquete jamais tinha visto coisa semelhante. Lorena (“Cidade das Palmeiras Imperiais”) fica as margens da rodovia Presi- dente Dutra, equidistante de Rio de Janeiro e São Paulo. De fundação bem ante- rior a Piquete, apresentava uma estratificação social mais bem definida. Existiam aí mais pessoas de posses que em Piquete. Residências, igrejas e prédios públicos centenários, remeteram logo minha imaginação para uma faustosa comunidade nos tempos do Império. A classe alta era a dos fazendeiros, que enriqueceram com o auge da economia cafeeira na virada do século e posteriormente migra- ram para a criação de gado leiteiro. Pensando bem, hoje me parece que tinham o mesmo ar blasé, decadente, que percebi nos descendentes dos coronéis da juta e da borracha, aqui de Manaus, quando os conheci, em meados dos anos 70. O prédio onde funcionava a escola para onde fui transferido teria pertencido a um baronete do Império, hospedado D. Pedro II, pertencido posteriormente a ricos fazendeiros e, por fim, desapropriado. Contrastava nitidamente com algumas re- sidências ricas dos endereços antes citados. Estas pareciam ter saído, ontem, das pranchetas de Niemeyer ou Le Corbusier. Coisa de novos ricos, gente sem pedi- gree.
- 67. Série José Carlos Sardinha 67 O CRAQUE ZEZÉ, A BÍBLIA E SEUS DOGMAS Publicado em 11 de outubro de 2016. Meus primeiros contatos com a molecada da vizinhança não foram mui- to animadores. Recordo-me com precisão de escarnecerem de minhas roupas, de minha fala e, principalmente, por ser originário de Piquete. Chamaram-me de “borrachudo”. Não entendi, até alguém me esclarecer sobre a existência, em Piquete, de um pequeno mosquito que incomodava muito com suas picadas, particularmente aos que não eram da terra. Nem tinha reparado nos bichinhos, quando vivia lá. Senti-me envergonhado, era membro de uma casta inferior, desprovido de “noblesse oblige”. Mas me aceitaram, menos por qualquer qualidade intrínseca minha, mais por ser dono de uma bola de futebol de couro (dizia-se “capotão”), e (aháá!). Minha técnica futebolística, no mínimo, não era inferior à deles. Expedito e Ataíde eram membros de uma mesma família de negros, cuja avó vivenciou os estertores da escravidão. O irmão mais velho do primeiro, Zezé, foi o cara mais habilidoso que vi, ao vivo, com uma bola. Fazia verdadeiras acroba- cias em campo e me brindou com o primeiro gol de “bicicleta” que presenciei em minha vida. Todos tentavam imitá-lo, Expedito foi o que dele mais se aproximou. Na época não conseguia entender os motivos que impediam o Zezé de já estar jogando em um grande time de Lorena ou do estado de São Paulo. Paradoxal- mente, o Eudes, por quem ninguém dava nada e que era um dos últimos a serem
